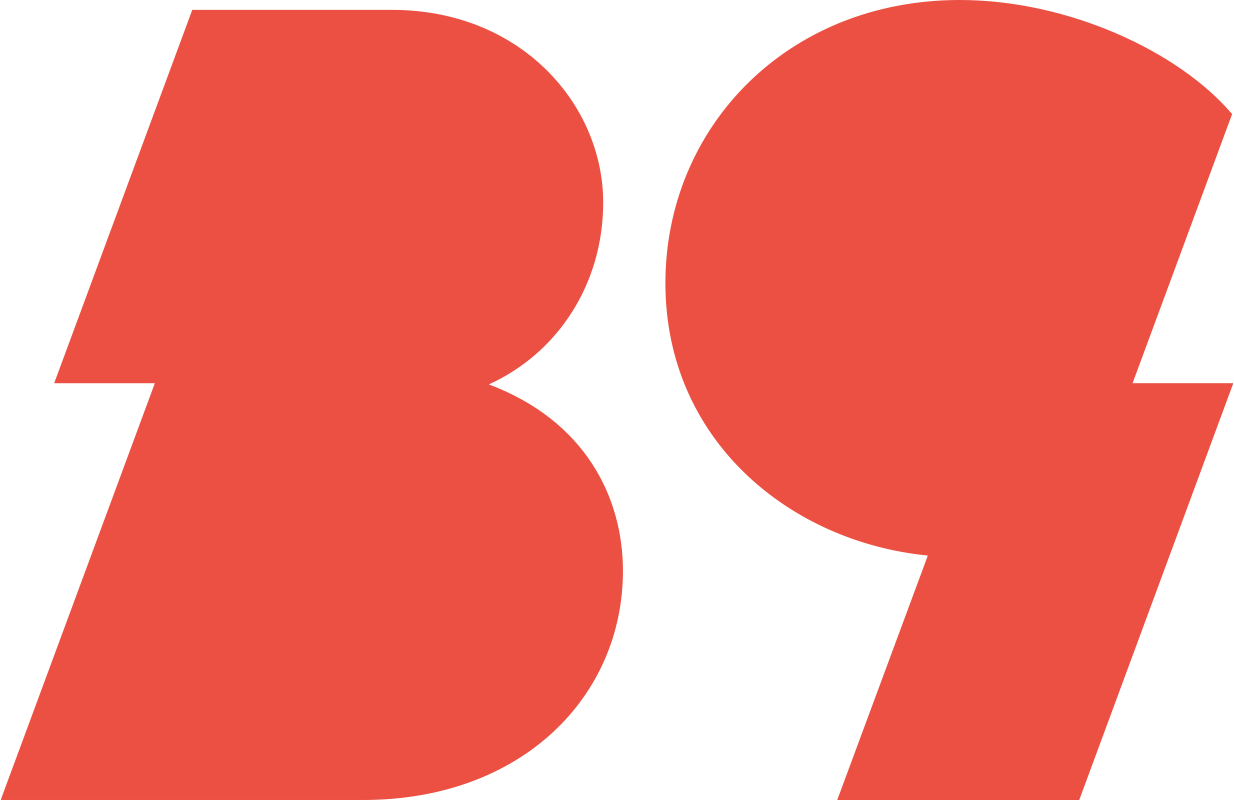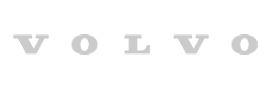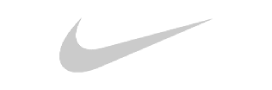Jornalismo de peito aberto
Esse programa foi transcrito pela Mamilândia, grupo de transcrição do Mamilos
Episódio transcrito por: Luciana Machado, Leticia Dáquer, Marina Feltran, Aline Bergamo, Carla Rossi de Vargas, Fernanda Cappellesso, Yuri Tonani, Camila Guimarães, Carolina Frandsen e Márcio Vasques. Revisado por: Carla Rossi de Vargas
Início da transcrição:
(Bloco 1) 0’ – 10’59”
[Vinheta de abertura]
Este podcast é apresentado por B9.com.br
[Trilha]
Ju: Bem-vindos ao Mamilos, seu espaço semanal de encontro pra ouvir opiniões diferentes e debater temas polêmicos com empatia. Eu sou a Ju Wallauer e por 4 semanas vamos todos sentir muito muito muito a ausência do sotaque mais gostoso da podosfera, porque Cris Bartis está no Canadá fazendo um intensivão de inglês. Mandem seu carinho pra nossa diva mineira pra ela aproveitar muito as merecidas férias e voltar renovada para nós. E pra me ajudar a tocar esse início de programa, pra não ficar um monólogo, com vocês o amado, idolatrado, o super querido, Fê Duarte.
Fê: Olá, pessoal, tamos aí de volta no Mamilos.
Ju: Pra polemizar sobre medicamentos, mas isso a gente apresenta na hora da Teta, né Fê?
Fê: É isso aí.
Ju: Pra quem que tem beijo hoje?
Fê: Beijo Pro Rio de Janeiro.
Ju: Pra Natal.
Fê: Pra Jucy, Carolina e Tami que estão curando um coração partido.
Ju: Pro Daniel, que nos mandou um selo Chuck Norris de aprovação pelo último episódio.
Fê: Um beijo pra Mossoró, Rio Grande do Norte.
Ju: Pra Cuiabá, pro Luciano que pediu um programa pra entender o que as pessoas tanto veem em UFC.
Fê: Um beijo pra Porto Alegre, Fabi, que não é louca, nem um pouquinho. Voa, sua linda!
Ju: Pra Manchester, UK, pra Nati que se inspirou no último programa e teve um sábado maravilhoso para se amar, amar o sol, amar os cachorros dela e o lugar onde mora ao som de Cartola.
Fê: Um beijo pra Yuri e Patrícia: bem-vindos à equipe de transcrição.
Ju: Um beijo pro Gustavo e pra Morzãozãozinho. Peraí, eu vou tentar de novo: morzãozãozinho.
Fê: Deve ser isso! Um beijo pra Ana, que acredita que o amor colore a vida.
Ju: Um beijo pro Alê, que começou a repensar o coração peludo depois do último programa.
Fê: Beijos feminazis pra Gabryela e pro Pyta, que fizeram 10 horas de maratona de Mamilos em uma viagem, isso foi incrível.
Ju: Beijo pra Austrália, pra Juliana que disse que quando vier pro Brasil quer nos conhecer. Gente, o Mamilos começou como um projeto de duas meninas, mas hoje é o resultado do trabalho colaborativo de uma equipe de apaixonados que rala muito a cada semana para o programa sair. Nosso primeiro crítico e editor é o Caio Corraini.
Fê: Quem continua a conversa nas redes sociais são Luanda Gurgel, Guilherme Yano e a Luiza.
Ju: A Pernetinha é a musa da pauta, e andou fazendo até curso de verificação pra navegar melhor entre as fontes disponíveis e trazer mais fatos e dados pra gente.
Fê: E tudo que você escuta aqui também pode ler e compartilhar com os amigos graças ao trabalho fantástico da Lu Machado & da Mamilândia.
Ju: Se você também ama o Mamilos, contribua no Patreon para que esse projeto tenha uma vida longa. Doe 1 dólar e entre no grupo de Facebook onde discutimos as pautas e os programas com os ouvintes. Patreon.com/Mamilos.
E agora pro merchan eu vou chamar uma pessoa muito especial pra conversar com vocês, toca o som, Caio:
–//–
Regina: Olá, ouvintes do Mamilos, eu sou Regina Gianeti, coach para o desenvolvimento pessoal e tenho um convite para fazer pra você que quer ter mais foco, mais bem estar e satisfação com você mesmo. É um convite para participar do programa “Você mais centrado com mindfulness“. Talvez você já tenha ouvido falar nessa palavra mindfulness porque ela está se popularizando no Brasil. São práticas meditativas, que têm o aval da ciência e nos ajudam a lidar com situações assim bem comuns nos dias de hoje como estresse, ansiedade, muitas coisas na cabeça, agitação mental, dificuldade pra dormir, etc etc. O “Você mais centrado” é como um trabalho de coaching em grupo que integra práticas de mindfulness, neurociência e filosofia e ele traz benefícios bem abrangentes que eu resumo em três grandes áreas: 1) Autoconhecimento, você vai ter mais consciência de si mesmo, dos seus processos mentais, dos seus comportamentos e entender como a sua mente funciona; 2) Autogerenciamento, você vai aprender a focar a sua atenção, aprender a lidar com os processos mentais que alimentam o estresse, a ansiedade, as perturbações emocionais e, olha que show isso: vai aprender a manejar a química cerebral para criar mais bem estar na sua vida. Por fim 3) Autocompaixão, você vai aprender a ser o seu melhor amigo, a aceitar sua humanidade e reconhecer o ser humano que você é e vai poder estender essa compreensão para os outros também. O programa tem 8 encontros semanais, vai acontecer na cidade de São Paulo entre Maio e Julho e se você quiser saber tudo é só entrar no site www.vocemaiscentrado.com.br e buscar a página próximos eventos. Ouvintes do Mamilos que fecharem a participação até 5 de Maio vão ter um desconto. Que vocês estejam bem e um abraço.
–//–
Ju: Eu e a Cris, a gente fez esse curso, a gente tem muito carinho pela Regina, porque foi a ferramenta que a gente investiu pra gente ter um 2017 muito diferente do que foi 2016, pra gente não terminar louca, cansada e estressada e pra gente fez muita diferença e a gente acredita muito nisso, tem o selo Mamilos de qualidade.
Gente, tenho mais um convite pra fazer pra vocês, no dia 6 de Maio eu estarei na mesa sobre “o futuro do jornalismo é mais humano” no “Festival Path” a convite do Guilherme Valadares do Papo de Homem, lembram dele? A gente vai estar lá às 17h15 na sala Cultura Inglesa 2 junto com Leandro Beguoci da Nova Escola que vocês já viram aqui no Mamilos e Denis Burgierman do Nexo. É uma discussão bem mamileira, espero encontrar alguns de vocês lá, poder dar um abraço, tirar uma foto e conversar um pouco, então nos vemos lá.
[Trilha]
Fê: Tamo falando aqui do pessoal do Twitter que segue a gente no @mamilospod. Primeiro a mensagem da @dremacedo: “eu acho se apaixonar uma grande celebração, é um grande ‘nossa, tô vivo’. @Mamilospod me fazendo quase chorar no trabalho às 11 da manhã.”
Ju: Rokeiro de taubaté disse: “Fui inventar de ouvir a playlist da @jwallauer do @Mamilospod enquanto escrevia o tcc, e tô viajando com as músicas, e o tcc continua lá.”
Fê: O Vinicius Lira escreveu: “Toda vez que o @Mamilospod fala sobre amor é como uma furadeira perfurando vagarosamente o peito.” Nossa!
Ju: Melhores ouvintes líricos, né? Camila Araújo disse: “Será que no episódio 105 o filme que @jwallauer cita é o ‘Ele não está tão afim de você’?” Siiiiiiiiiiiiim, esse filme, eu amo esse filme!
Fê: Esse filme é muito bom mesmo. E no Facebook onde toda semana a conversa continua com posts especiais. Lá no Facebook/mamilospod a Glê Morais escreveu: “Gente, que delicinha ouvir esse episódio. Voltando pra casa com um sorriso no rosto e um quentinho no coração.”
Ju: O Rafael Tinoco escreveu: “Eu simplesmente chorei no metrô lotado do RJ ouvindo sobre o amor. Esses temas merecem um episódio inteiro.”
Fê: A Neuza Nascimento escreveu: “Ouvir Mamilos está cada vez mais viciante! Consigo até pedir pra enfrentar trânsito pra continuar ouvindo. Todos os programas que ouvi foram espetaculares, mas esse, em especial, me fez pensar no que de mais romântico já fiz em minha vida e fico super feliz de estar fazendo. Reencontrei um amor de 30 anos e estamos nos dando uma nova chance porque nunca deixamos de nos amar.” Ai, que lindo mesmo!
Ju: Teve um monte de história legal que a gente recebeu essa semana. Pelo site vocês podem comentar o Mamilos também no mamilos.b9.com.br no post do episódio. O Rafael Oliveira Dos Santos disse: “Que cena bonita… Eu lavando meu banheiro, só de cueca esfregando a cerâmica e chorando como um menino ao ouvir o depoimento da Ju sobre como acreditar no amor novamente. Eu, que tô passando por coisa parecida (mas com a mesma pessoa) me emocionei demais! E quando a emoção vem tem que deixar rolar, né? Seja como e onde for. Muito obrigado por esse episódio tão bonito e esperançoso. Muito amor pro Mamilos!”
Fê: E o Leo escreveu pra gente: “É muito interessante que quando nos alteramos emocionalmente (seja por alegria ou raiva), nós voltamos para nosso estado roots, que é muito evidenciado pelo sotaque. Quando a Cris começou a falar do passado, o espírito mineiro falou tão alto que precisei comer um pão de queijo e tomar um café fresquim. Parabéns pelo Cast! Beijos e abraços.”
Ju: A gente també recebeu muito e muitos e muitos e-mails, eu respondi, assim, a maior parte mas ainda tem uns 20 aí que ainda não foram respondidos; gente, vai ser tudo respondido, tá? Se você quiser falar com a gente, escreve pra mamilos@b9.com.br, todos os e-mais são lidos com carinho pela Cris e por mim e todos são respondidos. O Caio de Carvalho escreveu o seguinte: “Estou aqui na empresa ouvindo escondido vocês e preciso confessar que dei pouca atenção para o tópico referente à morte do Ego. Mas quando o Oga me recita Michel Melamed e depois a Thais falando do olhar dos casais que se casam. Gente, COMO É BOM TER VOCÊS NESSA TARDE! O tempo aqui no Rio está nublado, mas com vocês no meu ouvido, parece um daqueles dias de verão que o Sol não está tão forte e seus amigos contam histórias sobre dias felizes.”
Fê: O Carlos Romel Pereira da Silva escreveu: “Quando li o título logo pela manhã, por um instante, quase pulei o episódio, deixando para outra hora. No trabalho, esqueci de pular e, parabéns! foi uma grata e inesperada surpresa. Conseguiram mais uma vez transformar um limãozinho murcho e cansado em uma excelente torta surpresa. Sem mais palavras, recebam meu abraço fraterno. Parabéns pelo excelente projeto.”
Ju: E por fim eu vou ler o e-mail da Aline, que é meio longuinho, mas é um abraço gostoso. Assim, eu li esse e-mail já era uma da manhã ontem, eu tava assim acabadaça e tava precisando clarear as ideias antes de voltar pra escrever uma introdução e aí eu falei assim: “putz, é por isso que a gente tem energia pra fazer o Mamilos, né?” Ela falou assim: “No fim do ano passado, novembro, eu entrei numa pilha religiosa e diante de tantos grilos, meu marido veio com o episódio falando sobre fé, que eu ouvi umas 20 vezes, porque cada vez que eu ouvia, eu nascia novamente! Em dezembro, me vi num buraco sem fundo, minha vida “perfeita” com casa, filha, saúde e casamento em harmonia me parecia indiferente, eu estava deprimida, me sentindo maluca, com pensamentos suicidas ocultados dentro de mim e lá veio o meu anjo marido, com o episódio de depressão, seguido do episódio de suicídio, e tenho que confessar a vocês, vocês, a sua voz, o seu olhar gentil para essas situações, me salvaram!!! Vocês salvaram minha vida! Eu estava em negação, envergonhada e sozinha e com tudo que ouvi, aceitei a terapia e comecei um processo de reciclagem interna, meu terapeuta que me desculpe, mas vocês conseguirem colocar minha bagunça no lugar, mais do que aquela consulta semanal com um desconhecido. Em terapia eu cavava, cavava e não achava a origem da frustração, ouvi o episódio sobre relacionamentos abusivos, estava ali mais uma montanha a ser movida! E lá fui eu, ouvir vocês diariamente e me reconhecer como alguém totalmente diferente, concordando com vocês em tantas coisas, que no meu universo me sentia solitária e coagida por não ter com quem conversar! E diante de tanta coisa linda, pauta nova, informação rica em olhares respeitosamente contrários, eu me senti e me sinto empoderada mais e mais a cada dia. E hoje me senti na dívida com vocês, em dar-lhes os créditos pela força que eu tiro diariamente dessa Mamilândia linda que me fortalece na minha caminhada de evolução! Só tenho um pedido a fazer… Por favor, não parem, não titubeiem, não duvidem do quão extraordinário é esse trabalho que vocês desenvolvem! Aqui eu me reconheci uma ateísta, cheia de fé (a Cris quem me ensinou), que pode mesmo assim amar o Natal, respeitando a igualdade e as diferenças, cheia de coragem para lutar, escolhendo minhas batalhas (aprendi isso com a Ju) sem medo do que está por vir, afinal sempre haverá um novo programa para ser ouvido! Eu simplesmente amo vocês!”
Fê: Nossa, obrigado, Aline, por ter escrito tudo isso, viu. Maravilhoso!
[Trilha]
(Bloco 2) 11’ – 20’59”
Ju: Então vamos pra Teta, e eu vou primeiro apresentar as pessoas. Como vocês já viram, estamos com o Fê Duarte.
Fê: Bom, pra quem nao me conhecia, meu nome é Fernando Duarte, eu sou psiquiatra, eu trabalho no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e também eu trabalho no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e também sou colaborador mamileiro.
Ju: Estamos também com a Camila Appel, que vocês já conhecem, que é a antropóloga e autora do blog “Morte sem Tabu” e agora também é roteirista, né Camila? Pode falar já?
Camila: É, eu trabalho num programa da Globo que chama “Conversa com Bial” é um programa de conversas e bate-papos sobre temas pertinentes à sociedade, um programa diário que vai ao ar uma e meia da manhã mas também é possível ser assistido no Globo Play.
Ju: Ou seja, você não está satisfeita com a polêmica do Mamilos, cê tá levando a polêmica pra Globo!
Camila: Uhuuu. E os ouvintes também, se tudo der certo.
[Risos]
Ju: Eu acho é pouco! Estamos também com a Ariadne Moraes, psicóloga clínica, mestre e doutora em psicologia clínica com formação em psicologia existencial e análise do existir, membro da sociedade brasileira de psicologia humanista e existencial. Boa noite.
Ariadne: Olá, como vai, tudo bem?
Ju: Além de todo esse currículo extenso e maravilhoso, ela é minha tia.
Fê: Melhor item do currículo!
Ju: Pois é, olha aí!
Droga pra dormir, transar, controlar apetite, a ansiedade, o medo, a tristeza, a solidão, pra concentrar, pra acompanhar o ritmo. Estamos nos drogando demais? Estamos tomando remédio pra não pensar, pra fugir de enfrentar as dores inescapáveis de viver? Estamos mais doentes ou os diagnósticos estão melhores e simplesmente estamos enfim sendo tratados? O aumento do consumo de remédios se dá porque estamos doentes ou porque a sociedade está doente e é virtualmente impossível sobreviver à pressão, ao stress, ao excesso sem drogas? Ou será que esses questionamentos todos são fruto do velho medo das mudanças, das fronteiras que se abrem quando usamos a tecnologia para transcender os limites do nosso corpo? Pra falar sobre isso a gente dividiu o assunto em três blocos. Antes, pra introduzir, a gente vai conversar um pouquinho, vai fazer uma entrevista breve com o Altay de Souza do podcast Naruhodo! pra definir o que que é doença.
–//–
Fê: Como diria Caetano, de perto ninguém é normal. Então como definimos doença? Conforme a cultura muda, mudam também os padrões para se determinar a norma, e assim reconhecer e classificar os desvios, os distúrbios. A homossexualidade foi listada como um “transtorno de personalidade sociopática” quando o Manual de Doenças Mentais foi publicado pela primeira vez, em 1952, e permaneceu até 1973. Médicos foram pagos para tratá-la, cientistas para procurar suas causas e curas. As pessoas homossexuais foram submetidas a inúmeras terapias incluindo choques elétricos, anos no sofá, modificação de comportamento e sexo substituto. Hoje pesquisadores buscam a marca genética da homossexualidade, mas não se admite mais a abordagem patológica para o tema.
O que mudou, a sociedade avançou – influenciando assim o escopo das pesquisas, ou as descobertas científicas promoveram, fortaleceram e embasaram mudanças sociais?
Altay: Então, existe uma coisa de mão dupla mesmo. Para definição de entidades semiológicas – que o que popularmente se chama como doenças- você tem que estabelecer um método científico que seja reprodutível e mais importante que isso, que seja falseável. Então a sociedade, o tecido social ajuda, por exemplo, em certas condições a você ter uma maior sensibilidade a certos sintomas do ponto de vista individual serem representados coletivamente como um problema social, tá? Certos diagnósticos, sobretudo em doenças mentais, certos diagnósticos clínicos em alguns países são um pouco diferentes de outros, sobretudo pra doenças mentais. Se você pensar em doenças mais funcionais: diabete, hipertensão, apnéia do sono ou coisas assim, os diagnósticos são mais consensuais entre os países. Então, respondendo sua pergunta, muitas vezes certas percepções sociais são pegas pela classe médica ou clínica e isso pode ajudar na percepção de certos diagnósticos, mas por outro lado você tem (e o que acontece na maior parte das vezes), você tem a própria pesquisa clínica gerando insights para a percepção de seguintes situações: por exemplo, você olha um paciente, eu sou um médico e observo um paciente, alguns pacientes com o mesmo tipo de sintoma e aí eu percebo, em contato com esse paciente, qual a repercussão que esse sintoma, ou esse grupo de sintomas, tem na qualidade de vida desse paciente ou, no caso mais grave, na mortalidade desse paciente. Se eu percebo uma relação funcional entre certas características do indivíduo e certas repercussões que isso acontece num padrão de vida dele ou na expectativa de vida dele, pode se chegar num consenso de uma entidade semiológica que posteriormente dará origem, com mais pesquisas, a uma doença. Então, o diagnóstico de doenças pode ajudar a criação de representações sociais sobre essa condição, isso é um sentido, e o outro sentido é quando as próprias representações sociais ou o ideário que as pessoas têm sobre certas condições existenciais acabam sendo incorporados pela classe clínica e isso dá origem a novos diagnósticos.
Ju:Qual é o processo científico para reconhecer e catalogar uma doença?
Altay: É importante notar que não existe um processo não científico para determinar uma doença, então não existe uma forma não científica, então tem um método só, existe apenas um tipo de metodologia para você reconhecer e catalogar e padronizar uma doença ou um quadro clínico. A área médica que estuda isso é chamada Semiologia. A semiologia é uma área da medicina que reconhece certos traços, sintomas ou signos, que é o que a pessoa produz, e verifica certos padrões gerais dentro desse conjunto comportamental e/ou fisiológico. E aí, com base em vários trabalhos, isso não é feito por um artigo só, isso são anos de trabalhos, discussões e tal até você chegar à ideia de um quadro semiológico, que são quais características físicas, fisiológicas, comportamentais são mais associadas com uma certa condição clínica (semiológica) e a partir daí, dada essa condição semiológica, qual é a repercussão disso na sobrevida do paciente ou na redução da sua função de algum órgão específico, no caso de alguma doença pulmonar, alguma doença do rim ou uma doença cardiovascular e também qual o impacto disso na saúde pública, então pensando não só no indivíduo, mas no sistema de saúde como um todo. Muitas vezes diagnósticos são criados, são desenvolvidos e aí você tem um nome. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo é a insônia, tá. Insônia é uma condição clínica que pode ser multifatorial, pode ser gerada por várias coisas, mas ela tem um critério razoavelmente definido para você tentar estabelecer se uma pessoa tem insônia ou não, tá bom? Os primeiros diagnósticos para insônia surgiram há coisa de 70, 80 anos atrás; no entanto o nome continua igual, então hoje, quando eu vou ao médico hoje eu quero saber se eu tenho insônia ou não, o critério pra estabelecimento de insônia não é o mesmo de 80 anos atrás, ele mudou várias vezes. Então uma coisa que seria importante as pessoas perceberem é que os critérios pra você estabelecer uma doença hoje, 2017, 10 anos atrás, 20 anos atrás, podem ser critérios diferentes. Então se eu me basear no critério de 20 anos atrás pode ser que eu não tenha o diagnóstico da doença, mas hoje eu tenha, e vice-versa. Então algumas doenças se tornaram mais permissivas, elas aumentaram pelo fato de você ter um critério mais flexível, elas aumentaram o número de pessoas que são classificadas como doentes e outras doenças ficaram mais rígidas, diminuíram a quantidade de pessoas que podem ser classificadas como doentes e, de novo, isso não é uma condição, é uma condição do indivíduo mas também a definição de doença é uma representação social de uma classe clínica, médica, enfim que é corroborada por uma classe social maior; então são representações sociais coletivas, tá? Então no passado tinham doenças que não existiam, mas elas eram especificadas em certos contos, em certas histórias, você via pessoas que tinham certa característica, que hoje em dia você associa com uma certa característica relacionada à doença, né, e isso acontece principalmente em doenças mentais. Então por exemplo, a síndrome de Tourette, na época o pesquisador, o Tourette percebia certos pacientes com certas características, com certos sintomas, que não eram diagnosticados, ou eram diagnosticados de forma errônea. E ele começou a perceber: “ah, esses diagnósticos, esses sintomas, podem ser agrupados numa nova semiologia”. Então o Tourrette fez uma série de trabalhos, reuniu os seus achados, e deixou como legado para próximos pesquisadores verificar se essas características mentais ou físicas daqueles indivíduos são características idiossincráticas, eram coisas deles mesmos, ou na verdade podem representar certas características que são prevalentes na população. Quando eles verificaram que essas características eram prevalentes, você tinha uma certa porcentagem de pessoas que apresentavam essas características, foi criada a síndrome de Tourette, que foi uma definição consensual da área médica, né. Então esses são alguns exemplos de como você pode reconhecer e catalogar doenças como são feitas hoje.
(Bloco 3) 21’30” – 30’59”
Fê: O pai do TDAH, do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, ele afirmou antes de morrer que essa é uma doença inventada, e ressaltou que, em vez de prescrever pílulas, psiquiatras deveriam avaliar as razões psicossociais que poderiam levar a problemas de comportamento das crianças. Afinal, o transtorno existe ou é um nome que inventamos para crianças inconvenientes?
Altay: Então, na verdade o que o criador do conceito de TDAH nos anos 70 falou não é que a doença não existe, é que ela… Isso é uma coisa totalmente errada que as pessoas popularizam por aí. Não é que a doença não existe, é que o TDAH é muito mais uma descrição do que propriamente uma doença. E o quê que isso quer dizer? Na verdade, o TDAH é um quadro de sintomas, tá. Ele é um quadro de sintomas. Ele é ainda, por ser, tudo bem que ele foi criado, o conceito, nos anos 70, então tem 30, 40 anos. Mesmo assim, pra você configurar e de fato atestar que uma doença existe, leva mais tempo que isso. Então o TDAH na verdade, ele é um quadro de sintomas, tá. Ou seja, ele ainda é uma entidade semiológica, ele não se tornou formalmente uma doença. Tem um outro exemplo muito bom que as pessoas discutem menos, que é o caso do Alzheimer. O Alzheimer também é uma entidade semiológica. Você tem basicamente quatro teorias do por quê as pessoas têm Alzheimer. E o que se estuda mais, assim, atualmente, é que na verdade você não tem uma doença só, você tem quatro subtipos de um quadro clínico que as pessoas chamam de Alzheimer porque elas colocavam tudo no mesmo saco. Eu acredito pessoalmente que o TDAH é a mesma coisa: ele ainda é, por conta do desenvolvimento científico, de mais trabalhos e tal, ele ainda é um balaio de gato. Então, para o diagnóstico do TDAH, ou do que quer que seja, do subtipo do que quer que seja, que talvez ainda vá existir, porque ainda não existe tanto consenso quando deveria, porque leva tempo, temos que pensar em causas materiais, então por exemplo, você tem mudanças anatômicas funcionais, mesmo cerebrais, em pessoas que devem ter certos tipos de TDAH, eu não digo TDAH como um todo, porque eu… Acredito que devam existir subtipos que ainda não foram bem esclarecidos; então pensando em causas materiais, você deve ter certas diferenças estruturais que são relacionadas com certos comportamentos que hoje são ligados ao TDAH, então isso é ligado às causas materiais. Você tem certas causas formais, que dizem respeito, por exemplo, ao desenvolvimento. Então não é uma coisa puramente biológica, 100% biológica, mas sim na interação do indivíduo com o meio durante a sua infância. Então certos padrões comportamentais praticados durante o desenvolvimento infantil podem gerar certas predisposições que numa situação um pouquinho mais adulta, nem vou falar da vida adulta, mas por exemplo, coisas que acontecem nos dois primeiros anos de vida da criança (e isso são ligados a causas formais) podem ter uma repercussão na idade escolar dela, quando ela tiver 7, 8, 9 anos, tá. Então certas coisas que não foram bem desenvolvidas, seja por conta de cuidado, seja por conta de alimentação, seja por conta de uma série de razões psicossociais, podem afetar depois o desenvolvimento dela escolar, ou o desenvolvimento dela no desenvolvimento de certas capacidades cognitivas superiores, tá. Isso é ligado à causa formal. Temos questões de causas eficientes também, que aí é ligada àquela ideia da sociedade do espetáculo. Isso é apenas um nível de explicação, não é a explicação, é só um pedaço, é uma explicação mais ligada à causa eficiente. Por exemplo, tem um trabalho de 2005 muito legal, que eles fizeram uma survey com professores, tá, em vários países. E eles verificaram que entre os professores americanos, dos EUA, 85% deles achava ou acha que o TDAH é super notificado, tem muito mais casos do que deveria. Quando eles perguntaram para professores da China, quase 60% dos professores da China acham que o TDAH é subnotificado, tem muito menos casos do que deveria, tá. Uma explicação eficiente pra isso tem a ver, por exemplo, com o que a sociedade espera das pessoas, tá. Então na China, mais ainda do que os EUA, acredite, é uma sociedade muito mais focada no resultado escolar. Então seu resultado escolar determina o seu futuro com uma probabilidade muito maior do que nos EUA. Nos EUA também, mas essa pressão é um pouco menor, ela se estabelece um pouco, de forma um pouco diferente. A pressão por resultado na China é muito maior, você é ranqueado em várias situações por conta do seu score escolar. Então se você não tem um bom desenvolvimento escolar, você deve ter TDAH, logo cê deve ter algum problema, por isso que eles acham que é subnotificado. Nos EUA a pressão não é tão assim, então eles acham que é super notificado, existe uma pressão da família, da sociedade, para que você tenha um desenvolvimento ótimo, sendo que esse ótimo não necessariamente quer dizer bom, tá. Não quer dizer, não é algo que respeita às suas potencialidades. É algo esperado no sentido de ser algo que é esperado mas não é agradável, não é útil, e não é importante, muitas vezes, tá. Por fim, falta a questão das causas finais, e aí é uma preocupação que eu pessoalmente, como psicólogo, tenho, que é, qual o impacto da excessiva medicalização numa fase de desenvolvimento muito importante, que é essa fase entre os 6 e 12 anos, mais ou menos, 5 a 12, qual o impacto disso no desenvolvimento futuro da pessoa? E mais do que isso, no desenvolvimento mesmo epigenético, e como isso será passado pras próximas gerações, né, pros filhos dessas pessoas. Temos poucos trabalhos ainda sobre isso, é uma área que está em franco desenvolvimento, que é essa questão da explicação das causas finais, tá. Só como mensagem final, eu gostaria de salientar que existe um erro lógico na discussão entre, por exemplo, psicólogos e pessoas da área médica. Existe um erro lógico quando você constrói argumentos nessas duas áreas. O primeiro é o seguinte: é quando o psicólogo, por exemplo, ele quer justificar que o TDAH não existe, e ele pega exemplos de casos clínicos. Então: “ah, eu tenho um caso clínico que eu atendi, de uma criança que veio com diagnóstico de TDAH, mas na verdade não era nada disso, era uma questão da família que foi trabalhada e a criança melhorou”, tá. É muito perigoso você utilizar isso como argumento. Em outras palavras, é muito perigoso você utilizar casos individuais para tentar explicar prerrogativas que são gerais. O erro também parte do outro lado, é quando um médico, por exemplo, lê um artigo e fala: “ah, esse artigo epidemiológico mostra que a prevalência de TDAH no mundo é 10%, só que aqui no Brasil a gente só identificou 5% de prevalência, então quer dizer que o TDAH aqui no Brasil é subnotificado, deveria ter mais casos do que de fato tem”. Isso também é errado, é também um argumento ruim, quando você utiliza uma informação que é global, que é uma estimativa média, para tentar explicar comportamentos ou variações individuais, tá. As duas explicações são complicadas. Você tem que tratar com elas em conjunto, para você criar um argumento realmente sólido para a explicação do TDAH na população. A ideia é a seguinte, é bem aquela ideia de cada caso é um caso. Se você disser que TDAH não existe, você vai deixar de beneficiar um conjunto de pessoas que de fato têm uma condição biológica que predispõe elas a um certo problema cognitivo, e você vai deixar de tratar. Por outro lado, você vai impor um tratamento que pode ser nocivo a pessoas que não têm uma certa condição biológica específica, mas sim têm uma condição psicossocial, tá. Então os dois lados tão errados; se você polarizar a discussão, todo mundo vai perder. Eu acho a questão se o TDAH existe ou não totalmente contraproducente. A questão é: como a gente melhora o diagnóstico, né? E mais do que isso: provavelmente existem subtipos de TDAH. Quais são os critérios pra esses subtipos? Quais são as hipóteses por trás de cada um desses subtipos? E aí você vai tendo esses subtipos, você vai conseguir melhorar muito mais a qualidade do diagnóstico e a personalização do tratamento. Essa discussão que existe hoje com o Alzheimer é uma discussão que espero que nos próximos anos seja mais corrente nas linhas de pesquisa com TDAH.
–//–
Ju: Bom, então a partir das colocações do Altay a gente estabelece um limite, então a gente não vai discutir as doenças, a gente vai discutir diagnóstico e tratamento. E vamos começar no primeiro bloco então, já que a gente tá falando de TDAH, falando sobre drogas na infância e o aumento exponencial de prescrição de ritalina. O número de casos diagnosticados como TDAH tem aumentado em todo o mundo. Embora esse aumento possa ser creditado a uma melhora nos diagnósticos, há especialistas que contestam essa explicação. O distúrbio é o segundo mais frequente entre crianças, perdendo apenas pra asma, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Enfermidades. No Brasil, entre 2003 e 2012 houve um aumento de 775% no consumo de ritalina. Essas taxas refletem nos EUA, onde os diagnósticos de TDAH em crianças e adolescentes aumentaram em 43% no intervalo de 8 anos. A polêmica está centrada na definição de se TDAH é um distúrbio biológico, neurológico, ou uma consequência de conflitos psicossociais e situacionais. Nos Estados Unidos, os psiquiatras infantis consideram o TDAH como um transtorno biológico, e portanto o tratamento preferido é feito através de medicações bio estimulantes, como Ritalina e Adderall. Já os psiquiatras infantis franceses, por outro lado, vêem o TDAH como uma condição médica que tem causas psicossociais e situacionais. Em vez de tratar os problemas de foco e comportamentais das crianças com drogas, eles preferem procurar entender o que está causando a angústia, não no cérebro da criança, mas no contexto social em que está imersa. O tratamento passa então por psicoterapia ou aconselhamento familiar.
(Bloco 4) 31’ – 40’59”
Ju: Vamos conversar um pouco então para entender essas diferentes visões e como elas impactam no diagnóstico e tratamento das crianças. Vamos começar com o Fê: Fê, como psiquiatra, como você explica o aumento exponencial de prescrição de Ritalina?
Fê: Bom, primeiro eu acho importante a gente diferenciar a prescrição de Ritalina de consumo de Ritalina. Que eu acho que os dois têm aumentado, mas provavelmente, o consumo está aumentando muito mais que as prescrições. Eu acho que se as prescrições de Ritalina estão aumentando, provavelmente porque mais pessoas estão sendo diagnosticadas com doenças passíveis de tratamento com Ritalina, tá? Que provavelmente a primeira causa disparado é o TDAH, então devem ter muito mais diagnósticos novos sendo feitos e o consumo, provavelmente, porque muita gente está tomando sem prescrição, né, sem diagnóstico, porque pega no mercado negro, pega na internet, pega de um colega que está tomando e daí, nesse caso, toma por outros motivos que não seja exatamente o diagnóstico.
Ju: Sim. Ariadne, em que situações você acredita que o diagnóstico de TDAH está sendo feito de forma irresponsável e comprometendo o desenvolvimento de crianças?
Ariadne: Bom, do ponto de vista que eu vejo, né, a questão é exatamente, né, os problemas que surgem, que são considerados sintomas que levam ao diagnóstico de TDAH, na verdade, eles já são amostra de distúrbios do desenvolvimento psicoemocional da criança, né. Boa parte deles, eles podem estar já de alguma maneira atrelados e provocando alguma disfunção biológica, evidentemente, né, mas é muito difícil, né, do ponto de vista do desenvolvimento psicoemocional a gente dizer, né, que eles são a causa.
Ju: Mas deixa eu entender uma coisa, porque assim: quando você tem um bebezinho, às vezes até intra-uterino, ele tá no útero da mãe ainda, e ele tem uma má formação no coração, a gente intervêm para que ele consiga nascer. Não importa que ele nem nasceu ainda e já está fazendo uma intervenção cirúrgica. [Ariadne: Sim.] Porque ele teve uma má-formação. Quando eu escuto do TDAH, eu penso que: há uma má-formação, uma diferença química, uma diferença no cérebro da pessoa. Se esse é o caso, se a criança tem alguma coisa que torna ela essencialmente diferente das outras: um sopro no coração, uma diabete, qualquer coisa que é diferente no corpo dela pra ela funcionar como o corpo deveria funcionar, ou como se espera que funcione, ou como o corpo das outras crianças funcione, me parece normal que eu intervenha. Não?
Ariadne: O problema é… Não. O problema é que eu não entendo, né, que essa disfunção do TDAH possa ser vista só do ponto de vista cerebral. Eu tenho certeza que alguma alteração vai se dar, né, porque eu considero que tudo acontece junto. Mas não acho que você não pode, por exemplo, identificar isso rapidamente. Não sei se a ciência já localiza o lugar, né, do TDAH, uma disfunção cerebral…
Fê: [Interrompe] Substrato biológico, tem alguns estudos que mostram algumas coisas.
Ariadne: Que, na verdade, eles são feitos, né, numa criança que tem uma série de disfunções, mas não consegue se dizer que aquilo nasceu com ou aquilo foi produzido por disfunções de desenvolvimento.
Fê: Eu acho que dá pra gente tentar fazer um paralelo, por exemplo, com a cárie, tá. Que é um problema de saúde bastante prevalente. A cárie não surgiu por acaso. Provavelmente tem a ver com muitos, muito tempo de construção dessa cárie, porque a gente ficou sem escovar o dente, alguma coisa assim, e…
Ju: [Interrompe] Alto consumo de açúcar, e tal.
Fê: Tudo isso! E assim, é preciso prevenir o desenvolvimento dessas cáries. É preciso que a gente mude o jeito que a gente se comporta pra prevenir isso. Mas uma vez que a cárie aparece, a gente também precisa tratar ela, né. E, especificamente nas crianças com déficit de atenção, por exemplo, eu acho que a gente precisa mudar a sociedade, as escolas, ou como a gente olha para essas crianças, mas não dá pra deixar só as crianças-problemas ali. E quando a gente tá falando do diagnóstico, inclusive de medicar essas crianças, ok, pode existir um risco de medicar, mas também a gente precisa pesar risco-benefício: será que não é maior o benefício de medicar?
Ariadne: Então, mas aí eu acho que vendo desse ponto de vista, havendo o diagnóstico, né, a questão assim: obviamente, tendo indicação, porque, sempre que há uma alteração biológica, alguma coisa confirmada, como com a depressão, obviamente aquilo precisa ser restabelecido. Só que o restabelecimento não precisa ser só medicamentoso. Pode ser isso associado ao cuidado de todo o ambiente que tá provocando que aquela… voltando ao exemplo da cárie, faz a cárie voltar a aparecer. Então eu trato a cárie, se eu não mudar a situação, né [Ju: os hábitos…], que provoca aquilo: os hábitos, as condições de higiene, as formas de alimentação, vai voltar a ter cárie, ter cárie e ter cárie. Então você pode medicar uma criança uma vida inteira por causa de um distúrbio de atenção, sendo que a origem daquela situação continua intacta. Então por isso há a importância da intervenção também no ambiente. E o que eu vejo que acontece, né, como psicóloga, é que o medicamento hoje em dia adquire uma idéia de pílula mágica. Então eu vou dar um comprimido pra uma criança, acabou o meu problema, não tenho mais que me preocupar como pai e mãe: se eu sou boa ou se eu não sou; se eu tô fazendo o que é adequado…
Ju: [interrompe] Mais do que… é… mais do que se eu sou boa ou se não, se está funcionando. Se é o que ele precisa. Porque assim, tirando os rótulos de… que vão te chicotear e te colocar no fundo do poço, continua existindo o que o seu filho precisa, né. Então, é… por mais que você esteja se esforçando, entregando muito, entregando tudo o que você tem, não é o que ele precisa naquele momento, ele precisa de outras coisas e você vai ter que aprender a dar outras coisas, a construir outras coisas. E aí, eu acho interessante colocar isso porque assim, fica muito claro com esse exemplo da cárie o que você tá falando: que não é escolher entre uma coisa ou outra, não é problematizar a cárie, e vamos tratar a cárie considerando causas antes e tal, se a cárie já está lá, se o dano já está feito, uma intervenção precisa ser feita. Mas ao mesmo tempo, a intervenção quando é feita e evidentemente, ninguém quer fazer um tratamento de cárie pra quem não tem cárie. Eu acho excelente isso. Esse exemplo é ótimo porque assim, se tem coisa que a gente não gosta é de um tratamento de cárie. Então assim, ele é péssimo, a gente não quer fazer. Então primeiro passo é: primeiro vamos conversar sobre diagnóstico. Estamos conseguindo diagnosticar direito pra não estar fazendo intervenção em quem não precisa?
Fê: E no caso, a gente tá falando do tratamento de cárie que é um tratamento enfim, desagradável, né: algo que causa muita dor. Eu não tenho certeza se esses outros diagnósticos que eu, enfim, talvez esteja fazendo exagerado, se isso é tão doloroso. Eu ainda não sei exatamente o risco disso.
Ariadne: É mas eu tenho… é… eu volto pra minha questão, né: o problema do diagnóstico. É muito fácil, é muito bom, é muito tranquilizador, formatar. Porque a hora que eu rotulo, né, mesmo que exista, mas às vezes não existe, às vezes é precipitado, às vezes é só uma forma de aliviar a angústia de todo um ambiente que não está dando conta de lidar com, às vezes, com uma coisa que é muito mais simples de um ambiente: pai, mãe, família, seja lá o que for, que esteja conseguindo identificar quais são as necessidades reais daquela criança. Então é muito mais fácil fazer um diagnóstico e medicar do que eu me ocupar de falar: do que ela está precisando? Porque que não está funcionando?
Ju: Sim.
Camila: Eu acho que isso tudo é também um sintoma de uma cultura doente, né. Entrando pela… uma abordagem antropológica, que compara outras culturas, eu acho interessante um paralelo que pode até parecer um pouco ousado aqui. O Ernest Becker é um… ele é um antropólogo que até ganhou Pulitzer na década de 70 com um livro que chamava “Negação da Morte”. E o ponto de vista dele é que nas sociedades ocidentais, quando você reprime o medo da morte que é um medo natural, ele acaba se tornando, se traduzido em paranóias, né. E uma delas é a necessidade do heroísmo, em sermos especiais, em conseguirmos lutar contra a morte. Eu acho que o paralelo que eu estou querendo fazer é que esse heroísmo, que ele discorre tão bem nessa teoria dele, acabou crescendo tanto que hoje em dia ele virou uma pressão por sermos e termos pequenos grandes heróis: super crianças superdotadas, que aprendem a ler, a escrever, a falar duas línguas, a andar de… a fazer tudo ao mesmo tempo. E essa pressão que a gente coloca sobre nós mesmos e por isso até passamos pros nossos filhos, ela é insustentável. Nenhuma criança quer ser um super… um super homem aos cinco, três anos de idade. E não ter tempo livre, ter tempo de brincar sem pretensão, sem ser produtivo, né.
Ju: E para além disso, uma coisa super simples que mesmo que a gente não tivesse mudado nada, já faria, eu acho assim como mãe, muita diferença: é o fato da diminuição da quantidade de filhos. Porque é excesso de foco, né. Com sete filhos, cara, você nem está vendo o que cada um está fazendo. De verdade. Agora com um filho, todo o foco da mãe, do pai está naquela criança. Eu acho que isso é pesado também, né.
(Bloco 5) 40’ – 50’59”
Ariadne: E isso eu chamo de um dos problemas, que me chama muita atenção nisso, que é a idealização do que é uma criança. Então você tem um filho que é idealizado, você não tem um filho real. Você olha o seu filho como se… e aí se ele não corresponde à idealização, ele tem que ter um problema. Porque se eu to fazendo tudo que é possível – seguindo a linha da Camila, né, na questão cultural – tudo o que é necessário, tô colocando tudo e ele não tá chegando nos níveis necessários, então tem que ter um problema com o meu filho. Tem uma pesquisa…
Ju: [interrompe] E se eu tiver um CID [Classificação Internacional de Doenças], se eu tiver uma pílula tá resolvido.
Ariadne: Fica ótimo! E aí os pais se aliviam tremendamente com os diagnósticos…
Camila: Que é a questão da responsabilidade. E tem uma pesquisa que diz que a quantidade de prescrição pra Ritalina aumenta muito durante a época escolar, que quando eles tão de férias não tomam tanto.
Fê: Mas é, a prescrição médica mesmo é assim. Quase todos os casos…
Camila: [Interrompe] Que é a escola que dá né, que manda.
Fê: Não, mas na verdade os médicos prescrevem desse jeito, tá? Em geral quando o médico prescreve o tratamento pra TDAH ele não pede pra tomar todo dia, ele pede pra tomar de segunda a sexta, e no final de semana não toma porque não precisa disso. E nas férias também. Não toma.
Camila: E por que que nas férias não precisa?
Fê: Porque em geral a gente tá falando da, digamos, existe um déficit de atenção. O maior problema dessa criança é o fato dela não conseguir prestar atenção nas aulas, por exemplo, e não conseguir captar o conhecimento necessário para se desenvolver. Em geral não faz tanta diferença na hora da criança brincar, na hora dela se divertir, nas férias ou no final de semana. Então o mais importante mesmo seria ela usar a medicação para não ter nenhum prejuízo no desenvolvimento do aprendizado.
Camila: Mas qual que é a referência desse desenvolvimento, né? É pra ela não conseguir chegar a que ponto, a que nível? A gente tá comparando a criança aqui, né…
Fe Duarte: Provavelmente a gente tá falando de notas de escola. Provavelmente a gente tá falando disso.
Camila: Mas quem define as notas?
Ariadne: Eu acho que é um pouco mais que isso, né. O que eu observo é que a grande intolerância é com a naturalidade da criança. Eles esperam, quer dizer, se certo número de crianças conseguem chegar numa classe e se comportamentar de modo X, então todos precisam ter aquele modo. Só que isso foi ficando cada dia mais rígido, e obviamente criança dá trabalho. E quem gosta de ter trabalho? Nem pai, nem mãe, nem quem cuida e muito menos professor. Destoou? Eu tenho uma história muito antiga de um rapaz, que hoje ele tá na volta de 40 anos, é cômico, né? Ele foi com 7 anos, 6 anos, tava na escola, pré escola, 6 anos, aí só desenho, pré escola normal. Aí um dia ele levantou pra professora e perguntou: “professora, eu tô aqui pra aprender a ler e escrever ou pra desenhar?” A professora chamou a mãe, mandou fazer eletrocardiograma porque provavelmente ele tinha um distúrbio muito sério. Como é que ele fazia uma pergunta dessa [risos] e não respeitava tudo aquilo? Parece piada, mas é um fato real. Tá bom. O ponto é que assim: a criança que pergunta, que se mexe, que quer descobrir, ela dá muito trabalho. E quando você põe num diagnóstico, quando você medica a ritalina de alguma forma, né, ela ajuda a criança a se concentrar, a fazer aquelas tarefas, mas você perde um pouco da criança.
Ju: Fê, uma coisa eu… falando… continuando essa discussão e voltando, amarrando com o que você falou antes que é de, bom, eu sei que pode existir um risco então assim, mas não é como a cárie. Eu medicar quando não precisa de medicamento o erro é marginal, ele é muito pequeno e o benefício quando tá certo é muito grande. Mas eu acho que aí a gente entra no que a Ariadne tava falando agora que assim, a questão pode não ser biológica, mas como a gente tá falando de criança o maior dano que eu acredito que se faça é a questão do rótulo. Então por exemplo, um exemplo bem bobo, na escola das crianças, que é Waldorf, eles não colocam o rótulo de mordedor numa criança de jeito nenhum [Ariadne: Claro] porque aquilo vai definir quem ela é e vai definir a expectativa dos outros sobre ela e aí isso vai definir o comportamento dela. E aí tem bons estudos e bons podcasts falando sobre como a expectativa do seu comportamento influencia no seu comportamento e nos seus resultados, e quão perigoso é e o peso que tem uma criança que, exatamente às vezes até por uma pergunta, às vezes por um comportamento de fato que é pontual, as crianças tão mudando o tempo inteiro, enfim, você rotular uma criança tão cedo, o que que isso tem de consequência pro resto da vida dela? Independente das questões biológicas de se tiver impacto ou não, entendeu?
Fê: Eu também acho complicado rotular, tá?
Ariadne: Você define o olhar né… [Ju: é…]
Fê: Eu também acho complicado isso. Eu acho que, quando a gente pega nas escolas, eu acho que muitas coisas têm mudado ao longo do tempo. Se a gente pensasse como eram as escolas antigamente, eram estruturas muito mais rígidas, muito mais hierárquicas. E essas relações hierárquicas de professores com alunos submissos (talvez, não sei) começaram a se horizontalizar. Então hoje um professor ele tem muito mais dificuldade de controlar a turma que antigamente não, ele só bastava olhar e todo mundo tinha que sentar no lugar. Hoje ele olha e ninguém para de zoar a classe, né. Os professores estão sendo obrigados, talvez, a se tornar melhores professores, a captar mais a atenção dos alunos e isso é muito difícil, né. E os alunos também tão querendo, eu entendo, que prestar atenção mas num tá fácil prestar atenção porque aquilo que os professores… [Ju: A concorrência tá muito maior, né?] Aquilo que o professor tá falando é chato. Antigamente também era chato, mas eles eram obrigados a prestar atenção. E eu acho que a medicação surge nesse momento como, enfim, surgiu aí uma medicação – não tô nem falando do TDAH em si – mas digamos que existe uma medicação X que faz com que as pessoas prestem mais atenção. Parece que ela…
Ju: [Interrompe] Independente de transtorno. É, temos um gap aí…
Fê: Não tô falando de transtorno. Não tô falando de diagnóstico. Mas digamos que… E não tô nem falando de Ritalina. Mas digamos que existe uma medicação que faz com que as crianças prestem mais atenção. Ela supre um problema que a sociedade não tava conseguindo resolver. Entendeu? “Supre” é, faz com que a sociedade se adapte a isso por mais algum tempo.
Camila: Mas a imposição de limites é muito importante, né. Quando a gente estuda educação, até as crianças francesas e tem toda essa teoria de que as mães francesas impõem limites muito melhor do que a gente e tudo mais. Quando elas não tem a noção de até onde elas podem ir, elas se sentem inseguras e essa insegurança pode se traduzir em ansiedade também. Quando não tem…
Ariadne: Sendo uma criança é fundamental o limite e certamente parte de muito disso que é diagnosticado posteriormente como dificuldades é porque em algum momento faltou cuidado, contenção, limite e segurança. Porque isso dá segurança. Criança que não é bem cuidada, bem amada, amparada, ela fica insegura. Criança insegura é criança agitada, não respondente à ordem, que não consegue prestar atenção.
Ju: Em Waldorf eles falam de ritmo. [Ariadne: É! Fica sem ritmo.] Eles falam que pra criança é importante o ritmo, ele repetir, ele saber a previsibilidade, ele saber o que que vem, o que que acontece. [Camila: Não é rotina, é ritmo] É, exatamente. É legal a diferença de rotina e ritmo porque eles falam assim: a rotina ela te massacra, ela te prende. O ritmo ele respeita… [Camila: Tá na natureza, tá na música…] Exato. Então por que que ele fala assim… Hoje você acordou mais tarde, e tudo bem, porque não é rotina, não tem que ser aquele horário. Mas independente do horário em que você acordar, você vai acordar e depois acontece isso, e depois acontece aquilo. As coisas se repetem, então é muito mais um ritmo, que é uma coisa mais fluida, você ajusta mais pra cá e mais pra lá, mas ele é previsível, ele ajuda a criança, dá segurança. E dá uma moldura pro que é esperado dela e pro que é esperado do mundo, então dá mais segurança.
Ariadne: Na verdade o Winnicott, psicanalista inglês, ele trabalha exatamente com essa coisa. Tudo o que um bebê precisa quando nasce é de um ambiente que seja estável e previsível. Só. Porque é isso que vai oferecer pra essa criança a condição de que o desenvolvimento emocional aconteça usando toda a bagagem biológica que ele tem. E qualquer transtorno (ou não) que venha a advir disso, vem exatamente de falhas ambientais em promover estabilidade e previsibilidade. Isso gera o caos pras crianças. Bom, então o ponto é exatamente isso, a criança que não tem essas condições iniciais que precisam perdurar e tem todo um ritmo de amadurecimento, né, e que isso é dividido mais ou menos assim em perspectivas de idade, ela não consegue manter segurança. Criança insegura – pra mim o ponto é esse – criança insegura, que não sabe o que vai acontecer com ela, que cada hora tá submetida a uma forma de situação, de cuidado, com mudança de ambiente, de pessoas cuidadoras, tudo isso, são pessoas que têm dificuldade de prestar atenção, de respeitar a ordem, de ficar paradas, né, e têm uma agitação.
Ju: O que eu acho interessante da gente construir é o seguinte: existe sim um risco de você diagnosticar, e portanto tratar, precocemente o TDAH que é esse o da questão do rótulo, de o quanto a criança vai ficar vinculada a isso e o quanto isso vai definir o desenvolvimento dela futuro. Tanto porque isso define como os pais olham pra ela, e isso já define tudo, quanto o como isso define como a professora olha pra ela, e isso já define tudo na vida dela, quanto define como ela se vê, e isso já define tudo na vida dela. Então é muito poderoso esse trio aí, essa tríade aí. Considerando isso, o que que eu falaria? Então assim, se a gente tem um custo real e não como o Fe falou assim, não é marginal o custo de você medicar incorretamente, por onde a gente começaria então pra não incorrer nesse risco e não deixar de atender quem precisa ser atendido? Então o primeiro passo é tentar entender as nossas expectativas, eu diria. Então ver o que que é real e o que que é irreal das nossas expectativas. E aí eu acho que o fato da gente ter menos filhos de novo volta a nos atrapalhar, por quê? Quando as famílias eram numerosas, o que é ser criança tava muito claro, ele tava sempre presente na sua vida. Agora, o Fe que tinha um filho só até agora, ficou 20 anos sem saber o que que era uma criança e tá passando por tudo isso agora pela primeira vez. Então pra ele é alienígena, no sentido de estranho, tudo o que uma criança passa. Ele não convive com isso mais todos os dias, então é muito fácil a gente se enganar e exigir de uma criança o comportamento de um adulto. Eu lembro assim, eu falava pro Merigo, quando o Benjamin teve os primeiros ataques, com três anos ou… você vai chegar nisso aí. [risos] Os lindos três anos, que a criança vira um demônio, você fala assim “tô fazendo tudo de errado, toda a minha criação tá errada”, por quê? Se eu tivesse criança todos os dias da minha vida isso ia ser a coisa mais natural. Pro segundo filho você já olha, já ri e já sai andando porque você sabe o que que é aquilo… mas…
Fê: É a poda neuronal…
Ariadne: É o quê?
Fê: É a poda neuronal…
Ju: Poda neuronal? Que isso?
(Bloco 6) 51’ – 1:00’59”
Fê: É o momento do desenvolvimento onde o número de neurônios diminui bastante. Tem dois momentos importantes na vida do ser humano onde acontece essa poda neuronal, que um é nessa parte aí, dos dois, três anos, e o outro é na adolescência.
Ju: Olha que o Steiner não tava tão louco. Porque ele fala que os três anos são o espelho da adolescência, né? Que é a adolescência infantil e tal. Mas assim, enfim, quando você tem crianças, muitas crianças, você sabe mais ou menos o que esperar de uma criança. Que assim, cê não precisa nem ter a questão científica por trás, você naturalmente já sabe por conviver. E eu acho que a gente tá vivendo cada vez mais isolados em famílias cada vez menores, é cada vez mais difícil a gente saber o que esperar de uma criança. Então assim, eu brinco com o Merigo às vezes quando o Benjamin faz alguma coisa e tal, falo: “tudo bem. Ele não sabe lidar com frustração. Você com 35 ainda não aprendeu muito bem. Ele só tem três (cinco agora, né)”. Tá ok. Tá dentro do esperado. Isso não quer dizer que a gente não vai intervir; a gente tem que ajudar e explicar, mas esse é o nosso trabalho. Tá tudo certo com ele. Não tem nenhum problema com ele por estar agindo assim. Então eu acho que a primeira coisa é a gente entender melhor as nossas expectativas com relação à criança; uma vez entendido “então temos um problema” mesmo com as expectativas avalizadas aí, a gente precisa entender assim: temos um problema, daonde vem o problema? Dá pra olhar ao redor e ver se tem alguma coisa ao redor, que mudando ao redor a gente consegue mudar o comportamento da criança, ou entender melhor o comportamento da criança? E só esgotadas todas essas instâncias, partir pra uma situação de medicamento.
Fê: Eu só queria citar uma outra coisa relacionada ao que cê tinha falado antes, Ju: eu acho super perigoso mesmo esse negócio da gente rotular a criança tão cedo, falar de um diagnóstico que a gente nem sabe ainda, pode ter mil consequências, né? E isso vai ficar marcado como a criança se vê, como os pais veem ela também. Eu também tenho medo do oposto, que é quando a criança é rotulada como “bagunceiro”, ou como “não tem jeito”, não tem… “esse aí é um sem futuro, ele não tá interessado”. Esse é o meu receio, porque eu acho que tem criança que tem esse problema [Ju: que poderia se beneficiar.] que poderia… nossa, teria sido tão legal se a pessoa fosse diagnosticada e tratada desde criança, desde pequena.
Camila: O meu ponto, eu acho que vale a pena a gente discutir também em algum momento, o que é “normal”. Porque o conceito de “normalidade”, ele muda de acordo com o tempo. Ele parte de dois valores: um do que é frequente e do que tá na média, né? E a gente mistura muito esses dois.
Fê: Eu sempre falo sobre o que que é normal e o que que é frequente. Sempre isso.
Camila: Ah é?
Fê: É, porque a gente vai dar exemplo de doença psiquiátrica e tudo… às vezes, quando a gente vai tentar dizer, do ponto de vista biológico, o que é “normal”, a gente tá querendo dizer daqueles 90%, entendeu? Aquilo que tá na curva de Gauss, que tá no meio. Aqueles cinco por cento pra lá ou dois e meio por cento pra lá, dois e meio por cento pra cá, o 95% que tá no meio é ‘normal’. O resto é ‘anormal’. É assim que a gente define, por exemplo, o que que é normal na temperatura do corpo, né? Ou… sei lá. Mas tem algumas doenças que não entram nisso. E o maior exemplo delas é a cárie, entendeu? E se a gente falar que a cárie é uma doença, é esquisito isso, porque ela tá presente, sei lá, em quase 50% da população. Então não seria melhor a gente dizer que isso é normal? Faz sentido a gente tratar uma coisa que é normal?
Ju: Depende se ela traz prejuízo, se ela traz incômodo, daí começa a ser diferente o critério, né?
Fê: Boa, Ju. Ok, então se traz prejuízo, talvez seja melhor a gente melhorar isso, né?
Ju: Ainda que seja normal.
Camila: Mas aí é um processo que eu acho que deve ser chamado de ‘normalização’, talvez. Que ocorre um perigo desse processo atualmente, é você achar que posturas misóginas de direita desses líderes que tão ascendendo agora vão ficar cada vez mais normais por tarem mais frequentes.
Ariadne: Elas se tornam comuns, né? Eu gosto de contrapor o normal com o comum. As coisas que se tornam comuns não significa que elas sejam necessariamente normais.
Ju: É, mas eu acho bom o contraponto do Fê, que é assim: normal é um termo muito pobre, mesmo, pra gente discutir qualquer coisa, né? Porque ele é muito abrangente. Então é isso, por exemplo, a cárie, você pode dizer que é normal. Porque todo mundo tem. Mas nem por isso ela é boa. Então ‘normal’ não qualifica.
Ariadne: Não é tão verdade que todo mundo tem mais cárie, né?
Camila: O normal não qualifica.
Ju: É, eu acho que é isso, o normal não qualifica, então assim, o nosso critério pra definir o que precisa de intervenção ou o que merece um cuidado, que não seja medicamentoso, mas um cuidado, um olhar multidisciplinar, não precisa ser normalidade.
Camila: Mas é o esquisito que acende a luz lá dos professores, quando eles olham uma criança esquisita, eles falam: pode ter alguma coisa errada com ela. E às vezes pode ter mesmo. Ou às vezes não.
Ju: Sabe o que é legal de… eu achei muito legal que você contestou o: “bom, mas a criança não tá conseguindo prestar atenção e por isso ela precisa ser medicada”, será que a gente não precisa melhorar o como a gente tá chamando a atenção da criança? Será que a gente não tem que questionar a educação? E a gente conversou um pouco sobre isso no programa sobre síndrome de Down. Foi super legal, porque assim: quando você vai pra inclusão, que é outro modelo de educação, você começa a abrir pra outros tipos de compreensão, outros tipos de vivência, então por exemplo: o menino vai lá, que tem síndrome de Down, e fala: “eu consegui entender tudo que cê tá falando e eu consigo provar isso numa prova, exatamente igual. Só que assim, eu tenho uma questão motora, que me impede de escrever na [mesma] velocidade que as outras pessoas. Então assim, a questão da prova não é saber se eu escrevo rápido ou não; a questão da prova é saber se eu sei o conteúdo ou não, certo? Eu prefiro que a prova seja feita oral, ok?” O professor falou: “ok, posso fazer”. Nisso, outros colegas dele falaram assim: “eu também! Eu me saio melhor numa prova oral. Posso fazer uma prova oral?” “Claro, pode fazer uma prova oral.” Então, de repente, pra adequar uma turma pra uma pessoa, de repente se viu que não tava adequado pra muitas pessoas. E assim como foi pra ele com relação a essa prova, foi pra uma série de coisas. Então esse menino que foi incluído desde a primeira série na escola e já se formou, o filho do Adiron, ele trouxe uma série de questionamentos pra escola, pro jeito de se ensinar, e que acolheu vários outros alunos. Eu acho que é a mesma coisa que você tá propondo agora: “olha aqui. É uma criança que tá dando problema, ele claramente destoa do resto da turma, mas se eu ouvisse essa criança e eu passasse a pensar a partir dela, ou incluí-la, será que eu não melhoraria pras outras crianças também?” Eu acho que assim, independente da questão de medicalização, esse confronto de ideias é muito rico; pra gente pensar o que que essa criança tá trazendo e o que que isso significa pra todas as outras crianças que tão nessa turma.
Ariadne: O que eu vejo, né eu concordo com você, mas não acho que o diagnóstico (voltando à questão do diagnóstico de TDAH), ele se apareça, surja, na escolarização. Hoje muito antes disso, né, os diagnósticos estão sendo feitos. Embora a ideia: ‘ah, ele não consegue aprender’, como uma criança hoje entra na escola com dois anos, que é uma idade pra criança brincar, correr, pular, subir escadas, fazer brincadeiras, com três anos já tá indo pra fazer um diagnóstico, porque na hora de ficar sentado, ela quer continuar correndo, pular, brincar e tudo. Então, pra mim isso daí é um limite de dizer: “ah, porque na escola ele vai ser ajudado”. É ainda complicado. Porque o diagnóstico tem sido feito cada dia mais cedo nas crianças. Crianças de três, quatro anos recebem isso porque as escolas querem atender uma demanda, que é agradar os pais, dando aquilo que a Camila tá falando, né. O que que é…
Ju: [Interrompe] Gente, mas é muito louco isso. Porque assim, quando a gente foi procurar escola, tinha escolas que iam nos oferecer, que é: faz aula de economia, de… sei lá, de corte e costura, assim, mil matérias, pra uma criança de dois anos! A gente saía correndo daquilo, sabe? Quando, justamente, na Waldorf é o oposto disso: até os sete anos você vai desenvolver o corpo; e o desenvolvimento do corpo vai propiciar que você desenvolva a mente. Então assim, você vai aprender tudo, e muito rápido, se você tiver pronto com todas as outras condições construídas. Então eles falam: “oh, é aprender o social, é aprender a interagir, desenvolver o sentir, é desenvolver o corpo pra depois você poder abstrair. Então até os sete anos, a gente vai te convidar pra fazer atividades. Se cê não quiser, ‘ah, tem uma criança que fica em cima da árvore o tempo inteiro’. Tá bom! Que bom!”
Ariadne: Eu arriscaria quase a dizer que em escolas em que se permite às crianças a ocuparem o espaço, né, da maneira como elas querem, o diagnóstico de TDAH deve ser bem menor do que em escolas mais tradicionais, que buscam cumprir currículos que agradem, né, que respondam à necessidade dos pais de que os filhos virem desde cedo mini-executivos, porque eles vão ter que ser futuros presidentes das empresas. Ninguém aceita filho menor que isso, né?
Ju: Fê, mas cê acha que assim, por outro lado… ok, considerando tudo isso que a gente tá falando, de excesso de expectativa, de uma vida pras crianças cada vez mais rígida, no sentido de que você tem um espaço muito pequeno entre o que ela precisa fazer e se tolera pouco variações quanto a isso, apesar disso, de considerar isso, cê não acha que tem também, uma questão de como… por exemplo, a gente não sabe ainda, não tem estudos concretos, mostrando quanto a exposição, o consumo de mídia eletrônica interfere no desenvolvimento cerebral de crianças; então, por exemplo, o aumento de diagnóstico de transtorno de déficit de atenção pode ser já um resultado real, um problema real, que existe. Então assim, não seria uma problema de expectativas, não seria um problema de pais que não tão dando a devida atenção, seria um problema de a gente [Fê: um exagero de estímulo] a gente tá tendo tanto estímulo, que as crianças, de fato, tão desenvolvendo transtornos.
Camila: Não só as crianças, né? Os pais também. E quando cê tava até falando da questão da insegurança e tal, teve um lado meu que falou assim: “poxa, ela tem razão”. E teve outro lado que falou assim: “ai, que saco, lá vão culpar os pais de novo! Tudo a gente faz errado!”.
(Bloco 7) 1:01’00” – 1:10’59”
Ariadne: Não que tudo o que faz é errado, mas existem condições mínimas que precisam ser cumpridas, precisam ser atendidas. O que eu vejo, né, o que me preocupa é que assim, baseado no que a Ju fala, né, a diminuição do número de filhos. Diminui o número de filhos eu quero fazer pra esse filho o melhor, né, quer dizer, uma coisa, o melhor pro meu filho então é um, são dois, o melhor. E quem sabe o que que é este melhor, né? E aí ele idealiza este melhor e a criança precisa corresponder isso de uma maneira muito grande. Só que tudo o que é idealizado não corresponde à realidade. Quando nasce uma criança, né, vocês tão maternando agora… Gente, é bem mais difícil do que vocês puderam sonhar, né? E as pessoas se assustam demais, e aí o segundo ponto vira pra mim e fala assim: “Ai, podia tanto ter uma chavinha que a gente desligasse quando quisesse.” Esse é o desejo, essa é a vontade, porque o trabalho é real, então é o que eu falo. E cuidar de crianças reais precisa dispor de muita coisa, né, quem vai cuidar daquelas crianças. E hoje em dia a gente não tem tempo e não tem vontade. Criança não é bichinho de estimação, que a hora que você cansa você põe lá no quartinho e ele fica lá, você volta só quando você quer. É nesse sentido que quando eu falo do ambiente das situações, não existe a ausência de ambiente de cuidado com a criança. [Ju: Sim] Eu não tô dizendo de tarefas específicas que é isso que é certo e que é errado. Não. Cada um tem que encontrar sua medida para aquela criança. Mas os filhos são diferentes e cada pai e mãe é diferente pra cada filho.
Camila: A quantidade de conhecidos, amigos que eu tenho que é… Tá cada vez mais tendo crises de ansiedade e de pânico no ambiente de trabalho…
Ju: Aaaah! Então vamos entrar no segundo tema que é justamente sobre isso. É sobre drogas e qualidade de vida. Droga pra lidar com ansiedade, com tristeza e com frustração. Segundo a Anvisa: saltamos de um consumo de 29 mil caixas por ano do princípio ativo do Rivotril em 2007 pra 23 milhões de caixas em em 2015. Eu vou repetir: de 29 mil pra 23 milhões. Eu vou falar ainda o pior: Rivotril, preste atenção, é o segundo remédio mais vendido no país. Ele vende mais do que Hipogloss. Ele vende mais do que Neosaldina.
Camila: Nãão! Mais que Neosaldina?!
Ju: Neosaldina. Mais que todos! Pensa num remédio?
Camila: Aspirina.
Ju: Vende mais. Pensa em outro? Sabe qual é o único remédio que ganha do Rivotril, o único? Microvlar, que é o anticoncepcional distribuído pelo SUS. Só. Todos os outros remédios, pensa no remédio que você quiser, Rivotril vende mais. Considerando que ele é um remédio de tarja preta, ou seja, você só consegue mediante prescrição que fica retida na farmácia, isso é ainda mais absurdo. Ele também é, pra já responder que eu sei que o Fernando tá pensando, o medicamento mais prescrito no país. Então não é só que tá comprando no mercado negro, pegando do amigo, não sei o quê, ele é o medicamento mais prescrito no país. A clara preferência pelo Rivotril é um fenômeno brasileiro – como o Fê tava falando – não se repete em outros países; o Brasil é o maior consumidor de Rivotril do mundo. E primeiro acho que é bom a gente construir isso de por que que a gente tá consumindo tanto Rivotril, que loucura é essa?
Fê: Provavelmente porque o Rivotril é uma medicação que faz efeito rápido, só.
Ju: E que é muito barato.
Fê: É muito barato
Ju:É MUI-TO BA-RA-TO.
Fê: Não lembro agora o valor, mas acho que tá menos de R$15,00 um caixa, né?
Ju: Sim. Uma caixa de Rivotril com 30 comprimidos pode custar até R$8,00. E o Frontal, por exemplo, que é um concorrente, custa R$ 29,00. Isso é uma base.
Fê: O Rivotril, ele basicamente é um calmante, um depressor do sistema nervoso central, você toma, acalma na hora, eu costumo dizer que ele não resolve nenhum problema, ele adia o problema, você joga o problema pro dia seguinte. E tem tanta gente querendo só jogar pro dia seguinte e é fato mesmo que muitos médicos prescrevem Rivotril mesmo como uma solução rápida, porque prescreve o paciente meio que para de reclamar daquele assunto, tá.
Ju: Cara, mas é bizarro, assim ó, é tipo, o cara é gastro e aí você tá com uma gastrite nervosa: toma um Rivotril. [Fê: Isso] Entendeu?
Fê: E o engraçado é que assim, se você for ver até protocolos bem mais antigos de depressão, antigamente o tratamento aparecia lá: “protocolo para tratamento de depressão leve, por exemplo benzodiazepínicos, por exemplo Rivotril, e terapia.” E na prática, era só o Rivotril porque ninguém ia fazer terapia. Então imagina, eu passei alguns anos da minha carreira de psiquiatra atendendo todos os dias alguém que tomava Rivotril há dez, há 20 anos e que continuava deprimido o tempo todo, só que tava dormindo. Então claro, é muito problemático isso, mas tem muito médico que também faz parte do sistema, ele acaba tendo que atender aquela tonelada de pacientes muito rápido, é uma coisa rápida que ele pode fazer, do tipo, prescrever logo Rivotril e se o paciente tiver outros problemas, que procure outro médico que vá depois falar com o psiquiatra se tornar dependente, por exemplo.
Ariadne: Vocês colocaram duas questões importantes. Uma foi a Ju, que coloca né, vai no gastro e ele receita o medicamento que não tem a nada a ver aparentemente, né. E eu fui estudar depressão, fazer meu doutorado em depressão exatamente por isso: que eu recebia pacientes no consultório que vinham do ginecologista com antidepressivos [Ju: Exato.], do ortopedista com antidepressivo, do endocrinologista com antidepressivo. Às vezes eles vinham com… de todos os esses três médicos tomando antidepressivos diferentes e concomitantemente sem nenhum cuidado. Então aí o Fernando fala a questão, pro médico acho que é muito difícil ouvir a queixa de um paciente, né, de um ponto de vista psicológico, é muito mais fácil medicar, porque parece que fez alguma coisa, mas nem sempre se atendeu àquilo que aquele paciente precisa, isso é muito sério, mas ele tá aparentemente cuidado. Então as pessoas…
Ju: [Interrompe] O paciente se sente de fato melhor.
Ariadne: Se sente melhor porque algum medicamento faz efeito, tá. Só que aí fica assim às vezes, tomando medicamento, medicamento e a vida não caminha, eu falo que o grande prejuízo pra essas pessoas é que a vida patina. E elas vão sempre repetindo as mesmas questões, os mesmos problemas e voltam pra trás e tudo. Então o que acontece? Medicar fica fácil por isso. Eu entendo que pacientes que têm questões do ponto de vista psicológicos, não são pacientes pra qualquer pessoa atender, são pacientes difíceis, né? São repetitivas, precisam descrever coisas longuíssimas, né, precisam de ter ouvintes pacientes mesmo e isso não acontece na clínica cotidiana em geral porque a demanda é muito grande.
Fê: Eu acho que o maior problema disso é que a prevalência desses problemas, desses transtornos, ela é muito alta e a gente acaba não tendo psiquiatra pra todo mundo mesmo, não tem. Então…
Camila: [Interrompe] Mas o psiquiatra ainda ouve.
Fê: É o maior desafio hoje em termo de saúde pública acaba sendo esse. Tem uma população enorme necessitada, necessitada de ser escutada, de ser ouvida, de ser cuidada e a gente não tá conseguindo dar… Fornecer à ela esses médicos que tenham pelo menos o interesse e o tempo pra escutar elas, sabe. Então acaba tendo um gargalo aí na história.
Camila: Uma vez eu entrevistei um psiquiatra ele defendeu que ele acha que os remédio é muito importante por um período, né, pra nunca haver a dependência e tal. E eu falei: “e as pessoas param de tomar quando você diz: ‘olha, agora cê pode parar.’?” Ele falou assim: “Não, elas não param.” Eu falei: “por quê?” Porque elas dizem que não podem falhar e que parar de tomar é estar à mercê de uma falha. Então a gente vive num mundo onde não é permitido falhas, né, você precisa ser bem sucedido em tudo. Em casa com a família, com os pais, com os filhos, com os amigos, no trabalho, na escola. E essa também vem talvez da questão do heroísmo é insustentável você não poder falhar, alguém apertando sua garganta, né.
Ariadne: Mas Camila, aí você desculpa, porque a pessoa que vive e acredita nessa tese, ela precisa realmente ser cuidada, né, porque qualquer pessoa que tem o mínimo de condição [Camila:Claro.] ela vai saber que não falhar, não faz parte da existência humana.
Camila: Ai não, não concordo, acho que é inconsciente. Eu tô aqui, me considero uma pessoa, não vou dizer normal [risos] porque depois dessa discussão toda o tema não tá em alta, mas sã, não tomo remédio e eu não acho que eu tenho permissão pra falhar em nenhum ambiente que eu vivo, não me dou essa permissão.
Ariadne: Não, você não se dá a permissão e não espero que você realmente cometa enganos horríveis, mas o fato de que eles vão acontecer é fato. [Camila: É fato.] É fato, então agora se você sofrer por antecipação porque eu não posso falhar, pera um pouco. Então há um problema que precisa ser visto, porque eu faço tudo para não falhar e eu sei que todo mundo espera que eu não falhe. Só que uma hora pode acontecer, e aí eu não posso me matar. Você já pensou se todo mundo vai se matar quando errar, quando…
Camila: [Interrompe] Não, suicídios aumentaram muito, né. 65% nos últimos 30 anos, é um tema super recorrente.
Ju: Então, mas eu acho que assim, tem duas coisas aí que são um pouco diferentes. Primeiro (pelo menos eu vejo um pouco diferente) que é não conseguir lidar com o sofrimento, com a perda, com as frustrações, com situações que são normais da vida que fazem parte da vida e uma outra ponta – que eu diria polos negativos e polos positivos – então não saber lidar com negativo; e um outro que é expectativa, o que se espera de você e como você não consegue atingir isso. Falando do lado do polo negativo do sofrimento, da dor, da desesperança, eu achei bem interessante na hora que eu tava procurando porque que a gente usa tanto Rivotril no Brasil e tal, eu acho que assim, a questão do preço fala sobre a escolha do medicamento, mas independente da gente falar do tipo do medicamento, essa família de medicamentos é muito usada aqui. E quando se fala pelo quê eu achei muito interessante uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, chama São Paulo Megacity Mental Health Survey, que encontrou uma prevalência muito maior de transtorno mental em São Paulo do que em outros lugares do mundo. Era uma pesquisa que era feita concomitante em vários lugares do mundo e aqui a prevalência era muito maior do que no resto dos lugares do mundo. E aí por que isso, se a gente está considerando a mesma metodologia aplicada no mundo inteiro, a pesquisa foi feita igual, então por que que é maior? E aí ele fala bastante sobre a questão de vulnerabilidade de cidades. Então fala de mulheres que vivem em regiões consideradas de alta privação, homens migrantes que moram nessas regiões, então o quanto a cidade nos embrutece e o quanto ela passa por cima da gente.
(Bloco 8) 1:11’00” – 1:20’59”
Camila: Voltamos à questão do ambiente psicossocial.
Ju: Exato.
Ariadne: Não tem como fugir disso.
Fê: Engraçado isso porque às vezes o problema extrapola muito a capacidade de tratamento do médico.
Ju: Sim.
Camila: Concordo.
Fê: E daí ele acaba se utilizando do rivotril como redução de danos. Eu lembro de uma vez de um caso específico, não era uma caso que eu estava atendendo, era uma discussão que eu estava tendo com um colega médico. Ele falava de um paciente que tinha insônia porque toda noite, onde ele morava, tinha tiroteio. E claro, já tinha entrado tiro na casa dele, ele ficava desesperado com aquilo, morrendo de medo de pegar em alguém e tal, e ele tinha muita dificuldade de dormir. Ok, para resolver o problema talvez ele tivesse que se mudar de lá, sabe?
Ju: Mas é que a vida não é moranguinho né, gente?
Fê: E daí o que aconteceu na situação, o médico acabou prescrevendo rivotril como: é mais saudável que ele tome isso e durma.
Ju: A condição não vai mudar, não vou conseguir tirar ele dali. Não existe essa solução naquele momento. Eu achei bem interessante porque tanto a ONU quanto a OMS falam do binômio inclusão e exclusão como uma das coisas que mais afetam a saúde mental. E aí você entende porque que no Brasil é tão complicado. Tem menos a ver com pobreza porque você vai encontrar outros países em que a pobreza é mais prevalente que no Brasil e você não tem tantos transtornos mentais. Tem mais a ver com essa dificuldade que a gente tem de viver muito perto um do outro com diferenças tão gritantes. E aí, você explica por que que a prevalência de doença mental não vai atingir só um determinado segmento da população, porque assim como esse paciente que você está narrando tinha medo constante porque a situação dele era muito precária, você tem do outro lado um grupo que não está protegido porque se sente com medo mesmo com o carro blindado. Então todo mundo está doente nessa sociedade.
Ariadne: Então e aí do ponto de vista exatamente que eu ia juntar esses dois pontos com vocês. A Camila fala o excesso de expectativa e você fala do transtorno. Esses grupos se juntam numa mesma coisa que é uma certa fragilidade pessoal, né? Que a gente chama de alguma forma de fragilidade de ego mesmo. Porque faltou alguma… brinco muito né, que a gente vê hoje em dia muitos adultos com copas lindas e raízes muito fracas. Porque a raiz para aprofundar ela precisa de muito cuidado no início; se eu pensar numa pessoa como uma árvore fica mais ou menos isso. Hoje em dia você tem uma raizinha fraca e estica o elástico e aquilo fica frondoso, e a hora que a vida deixa de ser – e não é – moranguinho desaba aquilo, muito facilmente, porque não se sustenta.
Ju: Então, mas o que eu acho é o seguinte: por que que eu separo as duas coisas? Porque assim, quando a gente está falando de você não conseguir resistir a uma vida que é muito cruel, que é muito difícil, é um medo que é muito real, de a gente ter índices de mortalidade que são maiores do que de guerra civil; então o pânico e o medo são reais, ele não é uma coisa da sua cabeça, que você não teve uma fortaleza de formação para saber lidar com isso. Eu acho interessante aquela frase que é assim: nos tempos atuais se você for saudável tem um problema muito grande com você.
Ariadne: Você precisa se anestesiar para sobreviver. Vê um mendigo na rua e não vê.
Ju: Exatamente.
Camila: Mas Juliana, você acabou de falar uma definição importante para definir, para a gente conseguir diagnosticar. Existe um medo que é real, mas você deu um exemplo muito claro que o medo existe na pessoa, mas a pessoa está dentro do carro blindado, teoricamente protegida, e ela tem o mesmo medo do que o outro que está submetido ao tiroteio. Então o medo é da pessoa, a situação externa ela é real, ela influencia nisso, naquilo, só que assim, cada um vai ter que entender as condições que vai ter que encontrar para solucionar porque o carro blindado nunca vai protegê-la totalmente e ele às vezes não tem condição de mudar aquele ambiente. Mas se a vida tem que continuar, ela pode ser de alguma maneira compreendida porque esse medo é tão atormentador, porque a síndrome de pânico é tão invasiva hoje em dia. É o tempo inteiro.
Ariadne: Ela é paralisante.
Camila: Paralisante, e vem mesmo. Porque isso, sabe, se a gente for colocar nas estruturas externas todas as causas, aí é questão da causa. Isso tudo tem que ver a partir na questão de uma origem, de onde que surgem as dificuldades.
Ariadne: E quando eu estava estudando o aumento do suicídio, a frase mais comum entre as pessoas que tinham essa tendência, apresentavam planos de suicídio, é: “eu não sou suficiente, eu não basto”. É como se nada que ela fizesse fosse bom o suficiente, ela não bastasse. Então isso está também nas crianças e nos adultos e é uma doença da modernidade. Eu acho né, no passado também tinham outras, tinham as histerias, lembra? [Ju:Sim, Sim] O Freud estudava todas as teorias.
Camila: Gente, o suicídio sempre existiu. Todas as doenças sempre existiram, não existe novidade nisso. Infelizmente a gente fala né, a proporção que a gente ouve hoje é também porque se permite falar mais disso. Não há novidade no meio médico, psicológico desses transtornos.
Ju: É, aí e eu queria te perguntar, já que você está falando disso. Assim, na sua visão, Camila, qual é o impacto na sociedade, dessas expectativas que a gente tem, não só expectativa de não falhar, mas também a gente fala bastante, a Eliane Brum tem um texto bom sobre a autorização para ser infeliz. Porque esse negócio de direito, é diferente o direito à felicidade e o direito à busca pela felicidade. Porque todo mundo quer poder buscar a felicidade, mas ter que ter felicidade isso é uma coisa um pouco tirana. Então assim, à medida que a gente está hoje no Facebook que todo mundo tá feliz, no Instagram que todo mundo está magro e bonito, numa sociedade superficial e de comparação muito fácil e em que todo mundo parece que está bem o tempo inteiro e que você não pode estar mal, e que você não consegue, por exemplo, você vê pessoas que acabaram de perder um ente querido, no momento de luto, que se ficar duas semanas chorando, já vai pro médico tomar um remédio porque você está mal. Porque tem alguma coisa errada com você. Em que sentido você acha que esse jeito da gente pensar, que esse jeito da gente se relacionar interfere no consumo exponencial de antidepressivo?
Camila: Eu acho que essa é uma sociedade, que até foi um termo que eu comentei uma vez, que é a sociedade dos adictos, no sentido de adição. Não só do vício, que a gente é viciado em tudo aquilo que soma, né? Então a gente é viciado em celular, em beleza, em estética, em internet, a gente faz tudo à exaustão, tudo muito. Essas coisas que somam, que são produtivas, que é uma herança capitalista, que até hoje também não encontramos um sistema que substitua o capitalismo. Bom, eu acho que esse ambiente não permite aquilo que subtrai, aquilo que não corrobora com essa nossa imagem de felicidade, que é o vazio. Então quando o vazio aparece ou a angústia, a gente não sabe lidar com isso, porque a gente não fala sobre isso, é uma coisa que não é encarada. Então ele toma conta da gente e eu acho que isso pode ser uma consequência negativa; o Butão é um país que agora está mudando o Produto Interno Bruto para FIB, que é Felicidade Interna Bruta que é interessante. Eles estão levando isso ao máximo, mas tem um lado muito interessante, que é ao invés de ver o produto como algo que seja valorizado, é a felicidade. Mas um lado questionável disso também é que reforça um pouco se a gente fosse aplicar isso aqui e agora, é bem diferente a nossa sociedade do Butão. Acabaria reforçando talvez essa obrigação de ser feliz.
Ju: É essa coisa de externar a felicidade, não basta ser feliz, você tem que ser hilariamente feliz, você tem que ser histericamente feliz, você tem que ser espalhafatosamente feliz.
Ariadne: Da mesma forma, por quê? Porque a tristeza, a queixa incomoda tanto quanto uma criança birrenta. Você dá conta um segundo de alguém te falar: “eu não tô bem” e acabou. Página dois, porque a vida continua.
Ju: “E de novo, você vai vir com a mesma reclamação? Você já falou isso ontem.”
Camila: Ontem de novo, a mesma coisa? É a criança birrenta. Essa pessoa precisa de cuidado, né? Agora ninguém tem condição, disposição para dar o cuidado que as pessoas precisam, e a tristeza demanda tempo. Então entra os meus questionamentos, diagnósticos são baseados em quanto tempo que o luto se cura. Quem que pode medir isso?
Ju: É interesse você falar de tempo, porque a gente também tá numa sociedade muito apressada, né? De querer as coisas muito rápido, de encurtar tudo. Porque tem um pouco da lógica capitalista que é a eficiência, né? E estamos aí com prefeito gestor que é sucesso de todo mundo justamente por isso: “vamos aplicar essa lógica de produtividade para tudo na vida, porque daí tudo fica melhor”. Então produtividade é fazer mais em menos tempo, então é isso. É sempre correndo, sempre correndo contra o relógio que gera uma impaciência muito grande. A gente não tem paciência pras coisas, pros tempos, pras pessoas.
Camila: A Tati Bernardi fez uma coluna essa semana que falava: não ter tempo é cafona. Você dizer que não tem tempo é muito cafona.
Ju: Mas chega a ser um status, né? Você dizer que não tem tempo. Você tem que ter dizer que você não tem tempo, porque nessa lógica, nessa ótica, o que se espera de você? Que você faça o máximo possível, porque é a lógica da produtividade. Então você tem que estar sem tempo porque isso quer dizer que você ocupou 100% do seu tempo, você é 100% produtivo. e aí que espaço você tem pra perder com uma pessoa que tá contando a mesma história de ontem? “Eu já ouvi essa história, você tá repetindo a mesmas historia, [Camila: a mesma história] não é produtivo isso”.
(Bloco 9) 1:21’00” – 1:30’59”
Ariadne: É um passo pra sermos robôs né, a gente vai se afastando cada vez mais do animal e chegando na inteligência artificial.
Camila: E a gente entra num outro aspecto muito importante que é: o que é diferente? Né, porque o igual facilita a vida né, você tá num ambiente de trabalho em que todo mundo funciona do mesmo modo, aquele que destoa – da mesma forma que a criança na escola – vai receber um diagnóstico, vai ser rotulado [ Ariadne: Vai ser rotulado] não vai ser um diagnóstico clínico, mas vai ser rotulado: é o chato, é o complicado, o atrasado [ Ariadne: o que quer aparecer] é o que quer aparecer, é isso.
Ju: Aí, já emenda com a pergunta que eu ia te fazer que é: qual a preocupação sobre eficácia de se buscar apenas respostas químicas para sofrimentos psíquicos? Então é isso: “ah, então ele não tá funcional, ele não tá conseguindo levantar pra trabalhar, ele tá muito… ele não tem motivação pra fazer as coisas, então a gente já conseguiu resolver o problema dele, a gente dá uma pílula (como o Fê falou) e já resolveu o problema dele.”
Ariadne: O Fernando explicou muito bem o que que acontece, aquilo de alguma forma é igual se faz um curativo, tô com um super machucado no meu braço [Ju: e põe um bandaid] aí eu ponho bandaid, aquilo ali sustenta x tempo né, depois o bandaid estraga e o machucado aparece né, a mesma coisa que eu digo, o remédio às vezes faz efeito suficiente até por longo prazo, parece uma ferida que ficou curada assim, mas mal cicatrizada, qualquer novo estímulo externo, aquela ferida abre e vai se aprofundando, então não dá pra adiar né, uma forma de cuidado um pouco, eventualmente né, na boa parte das vezes, especialmente em alguns casos psíquicos, de um cuidado mais amplo.
Ju: O que eu achei bem legal procurando assim, “ah bom, se a gente tá tomando muito rivotril, primeira pergunta é: qual o problema? E daí? Se nos faz se sentir bem, se a gente se sente melhor, por que não?” E aí assim, as três críticas que se fazem, os três cuidados que você tem que ver – que é justamente comparar se o benefício tá valendo correr esse risco – é a questão de dependência, então 80% das pessoas que usam benzodiazepínicos ficam dependentes, com dois ou três meses de uso, é pouquíssimo tempo né, dois ou três meses de uso, e a maioria tem síndrome de abstinência se o remédio for tirado de uma hora pra outra; e eu achei interessante médicos falando que assim, inclusive quem consegue fazer os desmame do remédio de ter o hábito de andar com o remédio, porque a dependência não é só química, existe uma dependência psicológica [Camila: psicológica] do remédio, então isso é interessante. O segundo passo que é a intoxicação, então medicamentos são as principais causas de intoxicação no Brasil; e o que eu acho que é mais importante que eu acho que é um pouco do que você tava tentando explicar com o negócio do bandaid é de mascarar sintomas de doenças mais graves e retardar o tratamento. Então assim, é o que o Fê falou: “bom, eu sou médico que tô aqui tratando a paciente, ela não é minha paciente”, que é o que a gente mais vê, “então a paciente veio uma única vez, eu tô vendo que ela tá em sofrimento eu não posso deixar ela ir pra casa nesse estado, desse jeito, então eu vou prescrever o remédio, porque eu tô fazendo um bem pra ela, ela vai se sentir melhor e eu falo pra ela procurar uma ajuda capacitada”, mas ela já saiu com a receita, ela vai se sentir um pouco melhor e ela vai, não vai procurar essa ajuda. E aí se ela tinha um problema mais grave, esse problema está se aprofundando porque você não tratou ele [Camila: sim] e aí você pode chegar ao ponto de, quando você enfim, vai tratar esse problema, ele já progrediu demais.
Fê: É, e afinal ela fica com dois problemas né, ela fica com uma depressão mais crônica – que não foi tratada – e também com a dependência de benzodiazepínicos e tem tanto problema que o benzo a longo prazo causa, seja de perda de memória, seja de risco cardiovascular, tem um monte de problema que faz mal ficar tomando benzo direto assim. E como eu disse, é o tipo de remédio que não resolve de verdade; ele empurra o problema lá pra frente. Então qualquer outra coisa que a gente pudesse prescrever seria melhor sabe, do que ficar prescrevendo benzo direto, pra sempre.
Ju: Fê, quando a gente falou sobre depressão no programa a gente falou bastante sobre estigma de medicamento né, o medo da dependência e a gente estabeleceu que o grande desafio de saúde mental ainda é o subdiagnóstico, então ainda é esse medo que a gente tem de que remédio: “poxa, você é dependente de alguma coisa, isso quer dizer que você é um fracasso, que você é um covarde, que você não consegue enfrentar a vida de cara limpa”, o quanto esse estigma evita que as pessoas busquem o tratamento que elas tão desesperadamente precisam, o quanto evita que elas busquem ajuda, enquanto esse é o real problema, considerando isso então, em que situações você acredita que a abordagem medicamentosa seja mais benéfica?
Fê: Eu acredito que o medicamento é mais benéfico quando o problema é mais grave, tá?
Ariadne: [Interrompe] Quando o problema é – desculpa – ele é realmente identificado, diagnosticado e ele é bem medicado né, porque às vezes, né…
Fê: É, mas às vezes não é só isso que eu queria dizer, na verdade assim, se a gente pensar num espectro de qualquer doença, seja da depressão leve, moderada e grave, aonde que a medicação é mais benéfica? Na grave [Ariadne: na grave] claramente na grave, a maior parte, principalmente se a gente tiver falando de depressão/ansiedade, se forem quadros leves, a medicação ou ela é pouco eficaz ou ela é igual a placebo, sabe? [Ariadne: sim] então ela é muito mais benéfica quando o transtorno é grave, que daí é muito óbvio que a medicação faz um grande efeito. Ou então, eu também acho que a medicação pode ser benéfica quando não existe nenhum outro recurso e isso é o tipo de coisa que às vezes eu vejo na atenção básica, onde o paciente tem um problema leve e que ele poderia ser tratado com alguma forma de terapia ou com alguma outra forma mais saudável, só que não tem nada e se não tem nada eu prefiro que ele tome remédio do que não tenha nada, entendeu?
Ariadne: Esse critério que você fala, Fernando, eu uso no consultório, sim, nesse sentido eu concordo né, pra mim é tranquilo, paciente chega encaminhado do psiquiatra eu faço toda a investigação de qual medicamento que toma, que aí eu já sei exatamente né, pela medicação, qual é o quadro dele visto do ponto de vista médico né, [Ju: Sim] biológico, então é tranquilo, porque independente de tá sendo atendido por um psiquiatra tomando medicamento, as pessoas ficam extremamente ansiosas com o estado clínico emocional que estão passando, então só que aí eles vão lá se cuidam e eles vêm pra mim e perguntam: “mas é isso é sério, tal tal tal…?” Pelo que foi prescrito, já ajuda bastante né, no acompanhamento psicológico.
Ju:Entendi, o que você quer dizer que o mais difícil é quando não existe um diagnóstico correto pelo psiquiatra, um acompanhamento pelo psiquiatra.
Ariadne: Ou que não vai no psiquiatra [Ju: é… não existe] é o que mais acontece né, não existe, porque se vem de um psiquiatra você já fez avaliação; agora o problema é quando vem do ginecologista, quando vem do ortopedista, quando vem do endocrinologista, né? Uma vez uma pessoa falou: “eu fui em cada um desses médicos e todos eles dizem que meu problema é depressão, me dão antidepressivos, eu não aguento mais isso!” [risos]
Fê: É um problema mesmo…
Ariadne: Não acontece?
Fê: Sim, acontece! Eu na minha prática eu só fico assim, eu costumo defender muito a ideia de que todo médico deveria conseguir diagnosticar depressão e conseguir tratar a depressão, porque se a gente depender só dos psiquiatras eu acho que muita gente ia ficar deprimido sem tratamento. Mas eu concordo, que eu acho que um psiquiatra avalia melhor.
Ariadne: Sim, eu acho! Até porque pra fazer toda avaliação bioquímica necessária pra identificar né, não só dosagem, mas a combinação de diferentes medicamentos que… então, eu, chegou paciente pra mim, se tá medicado e se não tá sendo visto por psiquiatra eu encaminho pro psiquiatra.
Fê: Deixa eu citar um estudo só, que eu achei, eu li recentemente, eu achei muito interessante: eles pegaram mais ou menos o número parecido, próximo de trinta pais nos Estado Unidos, trinta pais na China, pais que haviam perdido um filho, tá? Então, era um estudo especificamente sobre luto e preencheu uma escala olhando o nível de estresse desses pais que perderam um filho, especificamente quatro meses depois da morte, tá? Nos dois países o nível de estresse quatro meses depois da morte de um filho era enorme, tá? E fizeram a mesma aplicação de escala dezoito meses após a morte e nos Estados Unidos o nível de estresse era praticamente igual ao de quatro meses, enquanto que na China havia tido uma redução significativa do estresse. Foi um estudo que eu achei muito bonito porque ele escancara essa diferença cultural, né.
Ariadne: A CLT brasileira dá dois dias consecutivos pra licença nojo, que é o nome da licença por luto, é… é claro que é um absurdo, né?
Camila: Eu acho que isso tá mudando, eu sou otimista, eu vejo várias iniciativas, as pessoas tão compartilhando mais no Facebook, a mídia tá abordando mais sobre, até partindo de coisas mais dogmáticas, como por exemplo a teoria do luto que é as cinco etapas do luto da Elisabeth Kubler-Ross, que é interessante mas ela é fixa né, é um dogma: primeiro você tem negação, depois cê sente raiva e eu acho interessante partir desse princípio e divulgar isso mesmo, pras pessoas se identificarem, falarem: “poxa, eu sinto isso, eu sinto aquilo” e me incomoda também quando criticam o luto de alguém, eu lembro criticaram muito o Lula, quando ele teve o… quando morreu a Marisa, teve um amigo meu que veio, que escreveu também no Facebook: “pô, todo mundo me criticou que eu dei entrevista no enterro do meu pai e qual o problema e se for, fizer parte do meu luto falar sobre ele, querer demonstrar daquele jeito” sabe, eu acho que não existem regras e eu acho que é um momento pra gente lidar com isso, mas não há, não precisa ser forçado, de você lidar e falar assim: “pô, vai lá, chora, por que você não tá chorando, por que você não tá arrasado?” – “Poxa, porque eu ainda não digeri!” Então eu acho que no fundo acaba virando só mais um motivo pra gente pressionar todo mundo a ser igual né, a tudo, ao que se espera.
(Bloco 10) 1:31’00” – 1:40’59”
Ariadne: Eu acho que o ponto principal, né, do que Camila aponta, é isso, né, a ideia de que existem formas predeterminadas de se viver cada etapa, cada fase, cada problema da vida. Então qualquer pessoa que destoar minimamente disso tem um problema, ou pra mais ou pra menos. E isso faz a vida dos… de todo mundo hoje ficar muito complicada, né. A comparação de fato, né, é presente. Então a pessoa diz assim: “mas por quê que o Fulano, com menos tempo, já conseguiu sair disso? Por quê que o Beltrano…” Isso é evidente nos dias de hoje, né. Porque as pessoas não se permitem, mas eu acho não só porque não se permitem, é porque elas também sabem que elas não vão ter tempo pra isso, porque o outro não vai esperar esse tempo que ela precisa.
Camila: Acho esse ponto fundamental. O tempo de você ouvir um sofrimento, né, um território do negativo, é muito maior do que um tempo de celebração. Exige mais atenção e empatia, né, empatia é outra coisa difícil…
Ju: E paciência, né, a gente tá muito impaciente… A pressão por tempo é… te coloca num lugar muito impaciente, não é. “Tá, já entendi, já entendi, vai, vai, próximo, próximo… Quê que tem depois, quê que tem depois… E onde é que a gente vai chegar, e pra onde que a gente tá indo, né…”
Camila: E ainda tem a teoria de que quanto mais velho a gente fica, mais rápido passa o tempo, né. Pela, porque…
Ariadne: E passa mesmo.
[Todas riem]
Ariadne: Mas eu queria dizer uma coisa muito séria… Por quê que a dor e o sofrimento incomodam tanto não só quem tá sofrendo, mas quem tá perto? Porque ela provoca uma reflexão, né. A dor, a tristeza, é diferente do entretenimento que ela te tira das situações, te tira de você mesmo. E quando você tá triste ou alguém triste se aproxima de você, cê não tem como não ter que parar e aquilo tem uma tendência a aprofundamento. E quando a gente aprofunda, a gente se conhece mais, e isso não é simples. As pessoas também não dão conta de conhecer a si mesmo, tá. Então o nosso ditado é que, né, “sacudo a poeira e dou a volta por cima”, “tristeza não pega em mim”, né tem esse monte de ditados que mostram que é ruim, porque a hora que eu me entristeço, tenho que parar pra me entender.
Camila: Mau agouro, mau agouro é uma coisa cultural chata pra caramba. É, por exemplo, tem gente… As pessoas não falam sobre morte, ou não falam sobre tristeza, porque acham que é mau agouro, que você tá com alguém que tá triste, alguma coisa ruim vai te acontecer, sabe?
Ariadne: É, isso não faz sentido, né, porque… é superstição, só que não tem nada disso…
Fê: Engraçado, outro dia eu tava comentando com a Ju, tem gente que faz seguro de morte, seguro de vida, né, no caso, e não avisa a família, porque, “meu, se eu falar, assim, nossa, tenho seguro de vida, tô chamando a morte”, sabe, não pode nem tocar no assunto, é muito louco isso.
Camila: Ou testamento…
Ariadne: Isso é uma negação da vida, né… Se a gente considera que a morte tá ali presente como um fato, né. Então a dificuldade de lidar com mais uma manifestação da vida, que é a morte.
Ju: Fê, eu queria que você, pra gente encaminhar pra encerrar, falasse um pouquinho sobre as drogas nesse outro aspecto mais positivos que elas são usadas pra melhorar o nosso desempenho. Então não são drogas diferentes do que a gente tava falando até agora, né, a gente vai falar de doping cognitivo, que é uso de substância – embora o Fê não goste desse termo – uso de substância pra turbinar a concentração e a capacidade de aprendizado, a gente não tem números exatos, mas algumas pesquisas mostram que o remédio mais consumido por estudantes sem receita médica, como você falou no início do programa, é a ritalina, com o objetivo de alterar o estado de atenção e concentração, melhorando performance em provas como vestibular ou concurso. Mas não são só jovens que são seduzidos pelo convite de performance em pílulas. Executivos do Vale do Silício e de Wall Street aderem em massa aos nootrópicos, eu nunca tinha ouvido essa.
Camila: Nem eu!
Ju: Potencializadores cognitivos que supostamente são capazes de ajudar a melhorar o desempenho mental, melhorar a memória, a capacidade de aprendizado, e a concentração, sem produzir efeitos colaterais negativos. O exemplo mais usado lá nos EUA é o Adderall, que é semelhante à Ritalina, mas não é vendido no Brasil. E aí cê pensa o seguinte, se a gente tem uma sociedade e um mercado, como a Camila tava falando, cada vez mais competitivos, se você dissemina uma substância que tem o poder de potencializar o cérebro, você acaba criando uma nova norma, um novo parâmetro de normalidade, e você exclui quem não tem acesso à droga, né, que é o que a gente conversa de doping, por isso usar esse nome.
Fê: Sim… É, quando eu falei que eu não gostava do nome doping, é porque eu acho que quando a gente fala de doping mental a gente tá usando uma palavra que é…
Ju: Tem conotação negativa.
Fê: Pejorativa, né, a gente tá falando de uma coisa que é proibida. E tem vários termos bons, assim. Um termo que eu gosto é neuroenhancement, que tem, seria mais ou menos o aprimoramento neuronal. Tem um outro termo que eu acho muito engraçado, que chama “neurologia cosmética”.
Ju: Sim, sim.
Fê: Porque quando a gente pensa em cosmético, a gente já está pensando em melhorar uma coisa que não tá doente, não é.
Ju: Sim, perfeito! Por isso que eu acho que são duas coisas diferentes, no segundo bloco a gente tava falando de uma questão de um problema, de uma doença, e a outra seria: ótimo, neurologia cosmética.
Camila: Que é o que os trans-humanistas fazem, desejam…
Ju: Isso, exato.
Fê: Trans-humanistas, não sei disso.
Camila: Um movimento que acha que o ser humano pode usar tecnologia pra se aprimorar, então eles defendem a interação entre cérebro e máquina, a partir do momento que a gente vai ter um cérebro metade orgânico e metade artificial, e um corpo inteiro artificial, porque eles acham que o nosso corpinho aqui é inútil, basicamente.
Fê: No caso das medicações em si, já faz algum tempo que o pessoal estuda isso, né, teve esse cara que inventou o tempo nootrópico, e isso deve ter sido lá pelos anos 60, acho que faz um tempão, mas que basicamente são remédios que estimulam qualquer potência cognitiva. Então tem remédios que melhoram a atenção, ou melhoram a memória, entre os mais famosos que tão aí, tá a própria Ritalina que nem você falou…
Ariadne: É tipo assim, desculpa, o colágeno, preventivo?
Fê: Na verdade não, é, no caso, o colágeno, ele preveniria o envelhecimento.
Ariadne: É, previne, ou facilita a renovação celular, essas coisas.
Fê: Eu não tenho certeza se alguma dessas medicações que eu tô falando aí, de smart drugs, de drogas de inteligência, eu não sei se alguma delas preveniria o prejuízo cognitivo normal que uma pessoa tem, tá. O que eu sei é que, em alguns, casos ela melhora, sim, a compreensão, o raciocínio lógico, a memória, tá. Melhora.
Ariadne: É um efeito melhor, por exemplo, do que tomar um café pra dar uma acordada?
Fê: Sim, é acima do café, não é, não vai transformar a pessoa num Einstein, num Stephen Hawkings, não vai, mas é uma melhora que é significativa, ela é constante. Ela é real. Só não é, não muda quem a pessoa é, não vai ser uma coisa revolucionária, tá. Mas essa melhora, ela existe em vários medicamentos agora, seja esses estimulantes, seja, tem algumas, eu já vi algum estudo de remédios pra Alzheimer sendo usado em idosos que não têm Alzheimer, e que isso também melhora a memória deles, tá. Memória que seria um prejuízo talvez normal da idade. Então, é… Eu acho, começa a ser interessante na hora que a gente pensa que assim, eu acho que a primeira impressão que a gente tem dessas drogas da inteligência, o primeiro receio é mai ou menos aquilo que você falou, né, Ju, é que seria uma coerção indireta: “Se tem gente tomando e se dando bem por causa disso, meu, vai pressionar todo mundo, imagina…”
Ju: Todo mundo vai ter que tomar, o que a gente falou no programa de doping.
Fê: É, isso seria a coerção indireta das outras pessoas, que isso talvez fosse injusto, né. Mas uma coisa é quando você fala isso no mundo do esporte, no doping, tá, que você pressiona todos os atletas menores, iniciantes, a usar os mesmos recursos pra conseguir o mesmo objetivo.
Ju: E quem tiver mais dinheiro vai ter o melhor desempenho, meio que vai virar uma Fórmula 1.
Fê: OK, calma, quando a gente fala de dinheiro agora, a gente tá falando de outra questão, mas quando a gente fala só da coerção, se eu tô pensando no ponto de vista de conhecimento, talvez não fosse tão ruim, se as outras pessoas também estudassem mais e buscassem mais conhecimento. Em teoria, se todo mundo tiver mais conhecimento, vai ser melhor pro mundo inteiro, não vai?
Ariadne: É, mas essa coisa toda baseada na droga pra mim é um pouco complicada, e essa coisa de formalização e formatar de novo, eu volto, né, nisso não tem como, é história que eu observo hoje na, com a questão da nutrição, tá, e o padrão de corpo, tá. Se eu levar a conversa pro padrão do corpo, né, saudável, hoje em dia, e o quê que é bom, a gente vê pessoas quase doentes, vivendo, né, assim, levando marmita, não podem conviver com as pessoas porque só têm que comer aquela comida e tudo, né, então fica tudo assim, de novo a gente volta a usar coisas externas pra de alguma forma aplacar com certeza, no meu ponto de vista, questões pessoais internas, emocionais.
Fê: Sim, mas é… Eu acho interessante isso, porque você, Ariadne, você é uma defensora total da saúde. E quando a gente fala dessas coisas, a gente tá falando de performance, a gente não tá nem falando de saúde mais. Eu imagino que até quando uma pessoa busca esses padrões de beleza exagerados, ou mesmo quando uma pessoa busca, sei lá, ser muito bom num esporte, não necessariamente essa pessoa tá buscando saúde, ela tá…
Ariadne: Exatamente.
Ju: Não, ela tá disposta a sacrificar a saúde desde que ela alcance o resultado que ela quer. Claramente.
Fê: Em nome de resultado.
Ariadne: Exatamente.
Fê: É, no caso disso que eu tô falando de drogas da inteligência, OK, algumas dessas drogas têm problemas, efeitos colaterais, aliás a maior parte das vezes a gente não sabe qual que vai ser o efeito do uso crônico a longo prazo, a gente não tem estudo disso ainda. A gente só sabe que algumas a curto prazo são seguras, isso a gente sabe, né. E algumas a curto prazo têm benefício, a gente não sabe o quê que vai acontecer lá pra frente, né. Mas pode ser que aconteça isso mesmo, do tipo das pessoas começarem a usar e o comportamento da humanidade em função dessas drogas pra inteligência começar a se assemelhar ao mundo da estética, tá.
(Bloco 11) 1:41’00” – 1:50’59”
Ariadne: [Interrompe] Ah sim, e é essa a minha preocupação…
Fê: E aonde as pessoas… E no mundo da estética, a gente vê isso acontecendo direto, gente que se submete a coisas muito agressivas, muito arriscadas [Ariadne: Sim], em busca de um ideal.
Ju: [Interrompe] um padrão que tá muito inatingível.
Fê: E é curioso que às vezes a pessoa chega a ficar mais feia, né. Isso acontece também.
Ariadne: [Interrompe] ela muda o biotipo, ela vira outra pessoa, né.
Fê: Eu imagino que vai ter gente usando tanta droga pra ficar mais inteligente que vai ficar mais burro, sabe?
Ariadne: Sim, mas é essa coisa né… de que isso afeta de alguma forma. Uma conversa muito comum hoje em dia, né, todo mundo tem alimentação à base de Whey Protein, né. Só que isso sobrecarrega o rim, né… Aumenta tal, parará. Então toma Whey Protein e faz exame de sangue. Gente, pera um pouquinho! Isso não é padrão de normalidade, né, isso não é padrão de vida saudável!
Fê: Não, isso definitivamente não é saude – a pessoa tá buscando resultado.
Ariadne: [Interrompe] Isso não é saúde! Ela tá buscando performance. Então essa conversa aqui, de que a gente precisa realçar que aquilo que você faz motivado para alcançar performance, isso já é uma distorção de alguma coisa, não tem como.
Ju: [Interrompe] É, mas é complicado, né, porque assim: o jogo hoje é esse – o jogo é …
Ariadne: [Interrompe] E por que que é?
Ju: … mais rápido, mais forte, é…
Ariadne: [Interrompe] e por que que ninguém pode mudar o jogo? E correr riscos?
Camila: Com os animais era assim também, né?
Ju: Sim! Porque a diferença de ser mais rápido era a diferença de sobreviver. A diferença de ser mais forte, a diferença de sobreviver… e pra a gente, o jogo – por isso que eu acho natural que o jogo tenha virado pra a questão de smart drugs, que assim: hoje, se você é mais forte ou mais fraco, interfere pouco. Se você é mais rápido ou mais devagar, a menos que você seja um atleta, interfere pouco, mas ser mais inteligente, ou ter uma capacidade de armazenamento, de lembrar das coisas melhor – isso te dá um diferencial pra sobreviver. Então assim, por isso que essa discussão de smart drugs é muito tida em dois ambientes, que são extremamente competitivos: no ambiente de vestibular e de concurso, que você tá falando assim: “gente, se a gente tá assumindo que pode doping, se boa parte das pessoas tá fazendo doping, você tá colocando um novo patamar!” Porque a questão é escolher, a questão não é “todo mundo que atingiu esse nível entrou”, é “eu vou escolher entre você e você”. E se um tá usando, e o outro não tá usando, e a gente admite que faz diferença usar, temos um problema na hora da seleção, entendeu?
Fê: Sim, porque cê tá falando que vai ter uma competição talvez desigual, alguma coisa assim.
Ju: Exato!
Fê: É.. na verdade eu acho que assim, a humanidade ela há muito tempo que busca ficar mais inteligente – com recursos, como por exemplo, de tecnologia, que nem a… a Camila tinha comentado – ou o mesmo buscando remédios, coisas que ficassem… fazer a gente ficar mais inteligente…
Ariadne: [Interrompe] Eu não consigo acreditar que um remédio faça alguém ficar mais inteligente! A inteligência, pra mim, ela tem outra forma de desenvolvimento, eu acho assim: o medicamento ele pode te por, eventualmente, mais concentrado… [Camila: Sim] É, né? Mas isso não é inteligência, isso não aumenta performance intelectual, o desenvolvimento intelectual é outro caso…
Fê: [Interrompe] Mais ou menos, depende do conceito de inteligência…
Ju: Exato.
Camila: Pode aumentar, se você for fazer mais conexões, mais relat… Tipo, eu tô aqui falando, de repente eu pensei num texto…
Ariadne: [Interrompe] Não, inteligência demanda, obviamente, né, pré-histórias, muito anteriores. [Camila: Bagagem] Bagagem! Quer dizer, então, eu posso come… entendeu? Então é assim, pra mim não é qualquer pessoa que pode realmente se beneficiar de…
Ju: Não, mas… a gente não tá falando de termos absolutos, a gente tá falando de termos relativos. Então eu vou ser a melhor versão de mim mesmo com esse remédio. Então vou fazer conexões mais rápidas, eu vou absorver mais informação, eu vou conseguir me concentrar melhor. Então assim, eu não vou virar o Einstein, é o que o Fê falou, mas eu vou… eu vou ter uma melhora do que é o meu estado – e aí é justo que eu esteja concorrendo com uma pessoa que não tá tendo esse empurrãozinho?
Fê: Mas ó, é… assim… só comentando o que a Ariadne tinha falado. Alguns aspectos da inteligência, alguns… algumas coisas específicas, a medicação é capaz de melhorar. Se não é capaz de melhorar muito significativamente agora, provavelmente em algum momento vai melhorar mais. É, eu acho que é questão de…
Ju: [Interrompe] A gente vai se desenvolver pra isso.
Fê: A gente vai se desenvolver mais, vai ter medicações mais seguras pra isso. Em algum momento isso vai ser mais evidente. E a partir do momento onde a gente tiver uma medicação que seja eficaz e segura, isso vai sim passar ser um novo padrão, tá. Nesse mundo mais competitivo de vestibular, isso, mesmo num ambiente de trabalho. À partir do momento que tem essa certa, digamos, competição desigual – é complicado, porque é… é… diferente do esporte. As competições sempre são desiguais! Uma escola diferente já é uma competição desigual! Uma escola particular às vezes, ou uma Waldorf, que nem você falou, isso é uma mega… imagina aula particular – aula particular é uma MEGA competição desigual. E claro, remédio também é, mas a gente, normalmente a gente não é contra a competição desigual, a gente só não quer a gente ficar para trás, né!
Ju: É porque é como a nossa sociedade se organiza, então assim, quem tiver num determinado nível vai ter acesso a determinadas coisas. Então essa é a questão, assim, quando a gente tá falando de vestibular, a gente tá falando de um critério objetivo: algumas pessoas vão poder estudar e outras não. E o que vai definir esse.. essa entrada, quando você coloca o remédio na equação, grita. Por quê? Porque infelizmente é mais fácil discutir sobre o remédio que tá dando diferença de condição, do que discutir sobre alimentação, sistema educacional [Ariadne e Fê: Sim!] condição habitacional, então por exemplo o cara tá vindo de um bairro de 300 horas pra ele chegar pra estudar. Qual é a condição que ele tem? Você tá ali do lado do cursinho, o cara tá levando 3 horas pra chegar no cursinho. É a mesma condição? Claro que não é! A gente tem um programa inteiro falando sobre desigualdade. Mas é mais fácil discutir o remédio do que a desigualdade.
Fê: Muuuito mais fácil, e muito mais fácil de “resolver” com o remédio do que resolvendo a causa base, a sociedade.
Ariadne: Vai resolver, então, esse é o ponto: vai resolver medicar todo mundo? Não é essa a… o ponto fica.. pra mim fica difícil entender isso, né. Porque nunca vai existir possibilidade de igualdade.
Fê: Não.
Ariadne: Não existe! Esse é…
Ju: [Interrompe] Não, mas a questão que o Fê tá falando é a seguinte: se você encontrar uma droga que seja no longo prazo sustentável, ou seja – não te cause prejuízo à saúde, e que não te cause dependência… ou, até, tipo assim, que cê causa uma dependência porque você não quer ficar sem ela… mas que te faça melhorar sua performance, você… a gente vai usar e esse vai ser o novo normal. E tudo bem, porque assim, da mesma maneira como a gente usou uma série de drogas para outras coisas, então, sei lá, nossa expectativa de vida era 20 anos, mas aí a gente descobriu penicilina. E aí, é uma droga… e mudou a nossa capacidade biológica. Então a questão é: o limite biológico ser ultrapassado não precisa ser tabu. Isso não é problema. “Ah, mas eu não sou o mesmo sem a droga” – tudo bem, a gente não é o mesmo sem todas as drogas que a gente já desenvolveu até hoje. Problema zero quanto a isso, entendeu. O nosso medo não precisa ser esse. A questão é: de uso de drogas para melhorar a performance [Fê: cognitiva] cognitiva, não é da gente tá interferindo numa questão biológica, num limite biológico. Eu acho que isso é uma coisa que no primeiro momento gera um tabu, no primeiro momento gera um medo. A gente tem mais medo de interferir no nosso cérebro do que interferir em outras partes do corpo. [Fê: Na nossa pele, né..] Porque no cérebro, tá interferindo em quem eu sou. Então se eu usar um remédio pra melhorar, por exemplo, meu cabelo – eu uso, eu não quero ter o cabelo do jeito que eu tenho, eu uso um shampoo que vai melhorar o meu cabelo. Ele vai ser muito melhor do que ele poderia ser, naturalmente. Sem química, o meu cabelo é muito pior do que ele é com química. Mas eu não estou disposta a ter a mesma relação com meu cérebro. “Ah não, meu cérebro com química ele fica muito melhor: eu penso mais rápido, eu consigo reter mais informação”. Se for seguro (a gente nem pergunta isso pro shampoo, tá), mas se for seguro, qual o problema?
Fê: E mesmo quando a gente tá falando de segurança ou não – desculpa, talvez eu teja estendendo muito isso. Quando a gente pensa na segurança da medicação, ou não, tá? Tem aquela coisa relação risco-benefício, né. Eu não sei o risco que ele causa, tem algum benefício. É parecido com a discussão sobre drogas, onde eu não sei se é melhor proibir as drogas – do tipo, não deixar ninguém usar. Por quê? Porque droga faz mal, tá, ou então se seria melhor eu liberar algumas coisas, e a pessoa assume o risco pra si própria. Se ela entende aquele risco, ela entende que pode prejudicar em alguma coisa e quer usar – fique à vontade, tá. Existem muitas discussões assim a respeito de drogas, e claro, existem drogas liberadas, tipo álcool, existem drogas proibidas, como crack. E provavelmente vai acabar acontecendo também nas smart drugs. Vão ter coisas que, “Ok, melhora a performance, mas é melhor não dar, não liberar mesmo”, e outras que se a pessoa quiser usar, “usa, você é responsável”.
(Bloco 12) 1:51’00” – 2:00’59”
Ju: É, eu acho que o outro limite disso é o risco que a gente está disposto a correr, porque justamente a gente está numa sociedade tão impactada por performance, que aí é o outro extremo. Então, nem a gente precisa ter medo, e é não intervencionista, naturalista, porque a gente não está fazendo cocô no mato, a gente está intervindo em tudo, em tudo que é natural – a gente não faz nada naturalmente, a gente usa a tecnologia justamente pra nos desenvolvermos – mas, por outro lado, eu estava lendo, para esta pauta, de uma droga que é usada por conta do medo de gestor de falar em público, justamente porque hoje todo mundo está com a câmera na mão, se você falar qualquer bobagem, você vai ser exposto e tal, eles estão tomando um remédio que é indicado para cardiopatas, o Atenolol, porque a fórmula relaxa, então ele fica muito tenso para falar em público, então ele toma um Atenolol para relaxar. Aí, eu acho que a gente tem um problema, entendeu? A gente está pintando extremos aí pra gente se encontrar no meio termo. Aí eu acho que é uma questão do que a Ariadne estava falando de “vamos ser críticos sobre qual é a nossa base, a nossa raiz psicológica para lidar com as imposições absurdas da vida”, [Ariadne: Absurdas, esse é o meu toque.] porque eu acho que as exigências da vida, elas estão absurdas, mas aí é como a gente vai lidar com isso, da mesma maneira que você não negou que a condição social, no Brasil, da violência, por exemplo, ela é insustentável. Mas, diante disso, temos que sobreviver. E quais são as suas estratégias para sobreviver no meio desse caos? Então, sim, seria ideal que a gente lute ao mesmo tempo, para mudar essas condições, então vamos questionar a sociedade do jeito que ela está, vamos questionar a cultura do jeito que ela está, mas enquanto isso, eu não posso deixar para ser saudável e viver bem só quando as coisas estiverem OK. Então, nesse meio tempo, a gente tem que ter estratégias de sobrevivência que não dependam de tomar um Atenolol para falar em público, na minha opinião.
Fê: Na minha opinião, eu não vejo problema na pessoa tomar o Atenolol. Até porque, assim, o que normalmente acontece com quem tem essa timidez ou essa… sei lá, acho que não chega a ser uma fobia social, mas digamos, esse receio de falar em público: a pessoa fica ansiosa, o coração dela acelera e ela fica mais ansiosa com isso, e isso vira um ciclo vicioso, uma bola de neve, vai aumentando. O que o Atenolol faz é diminuir a frequência cardíaca, tá? E se isso, em algum momento, é capaz de diminuir a ansiedade dela a ponto de colocá-la para conseguir falar em público, falar o que ela queria falar, e se isso desmistifica aquele ato de falar em público, ótimo, deu certo. A gente talvez nem precise usar isso para sempre, usa isso em uma ou outra vez, e pronto, a gente resolve o problema!
Ariadne: A questão do falar em público, né, uma coisa é falar em público bem, outra coisa é fazer uma performance pro público, em geral, e por que eu não posso chegar nervosa em público, e ir me acalmando, gradativamente, e alcançar aquilo que é o meu máximo, né? O ponto é sempre assim, que precisa-se chegar a um padrão que alguém determinou que é o melhor, e até onde a gente vai com isso? Existe um jeito que é sempre o melhor e que alguém está determinando, e a pessoa nunca pode respeitar o jeito dela, que por exemplo: “olha, eu aceito tudo, mas eu não gosto de falar em público”.
Camila: É, se você não está falando de uma fobia, sim, faz todo o sentido, isso não é um distúrbio.
Ariadne: É, eu não estou falando de distúrbio, mas eu estou dizendo assim, que a gente faz uma crítica à sociedade, só que a gente aceita as imposições.
Ju: Mas é que assim, o que a gente está falando é, eu estou falando de gestores, por exemplo: não tá aceito mais. O jogo não permite isso. Se você é gestor, você tem que saber falar em público e você tem que saber falar em público bem, porque, mesmo que você não vá falar numa televisão, você vai falar pra sua equipe, e pra sua equipe você está se expondo, então assim, ou você vai escolher que você nunca vai assumir um cargo de gestor, ou você vai ter que enfrentar o seu medo, e aí eu concordo com você: a gente tem diferentes pessoas com diferentes fortalezas, mas as pessoas não vão, todo mundo, saber falar em público com fluência e tal, mas hoje a gente não permite isso, o sistema, do jeito que está posto, não permite isso.
Camila: Mas tem outras técnicas: você pode tomar suco de maracujá – comigo funciona super bem. Mindfulness está na moda, tem outras técnicas.
Fê: Sim, eu acho que há várias técnicas não farmacológicas para isso, várias.
Ariadne: Então, aí a gente volta pro ponto de eu entender e me entender comigo mesma, de alguma forma, saber como é que eu vou chegar à condição de realizar aquilo que eu preciso realizar.
Ju: É que é assim: para mim, volta a questão de, quando a gente está numa sociedade de desempenho, pressionada pelo tempo, mindfulness, Maracugina, na na na, eu quero uma solução garantida, eu quero performance, então eu vou pro Fê, como que é? O coração acelera e isso dispara um gatilho da mente, que vai disparar o gatilho do coração, e que eu vou entrar nesse circuito? Como é que eu corto esse circuito? Essa pílula. Voilà, entendeu? Resolvi! Numa pílula eu resolvi o meu problema.
Ariadne: Resolveu, só que o ponto, veja, é sempre a comparação de alguma forma, né? “Eu preciso ser como Fulano”, “Preciso conseguir o [mesmo] que Fulano”, então eu estou sempre questionando, de alguma maneira, essa imposição e aceitação do padrão. Porque a pessoa que aceita e vive só via o padrão que o outro coloca, ela vai ser infeliz sempre, sempre! Não vai ter pílula suficiente criada no mundo para aquela pessoa ficar bem, esse é o ponto.
Ju: É, e eu acho importante colocar assim: não é necessariamente o padrão de uma pessoa, né? É que a gente, cada vez mais, tem o “padrão ouro”. Para tudo tem um padrão ouro, é o padrão ouro da mãe, padrão ouro do profissional, padrão ouro da esposa, padrão ouro da podcaster. O padrão ouro existe para qualquer coisa, então qual é o padrão ouro de cesta de Páscoa? Qual é o padrão ouro? Se você não chegou ao padrão ouro, então temos um problema.
Ariadne: Eu defendo o “padrão possível”. Para cada um.
Ju: Para cada um. Eu acho que mais importante do que isso é para cada um, porque vai ser diferente para cada pessoa.
Ariadne: Porque vai ser diferente, e que cada um se entenda com as próprias limitações.
Camila: Eu não gosto dessa definição de “padrão possível”, ela me aciona competição.
Ariadne: Ou o “jeito possível”.
Camila: Na hora em que você falou o “padrão possível”, eu falei assim “Ah, não, o meu possível é o céu”, sabe? Ela me aciona.
Ju: [Rindo] Ai, geração Y, ai, geração Y!
Camila: Não é errado, mas talvez o vocabulário não esteja extraindo o melhor, não sei se é o “possível”.
Ariadne: Não, é extremamente pessoal, quer dizer, né, porque o problema é assim, o que está em questão aqui é sempre a comparação.
Ju: De você ter que chegar a um lugar.
Ariadne: A um lugar que alguém disse que é o lugar, e ninguém se atém a aquilo que diz respeito a ela mesmo. Então todo mundo tem que gostar da “banda tal”, porque…
Camila: Eu acho conformista isso. Eu acho que, quando você fala “o padrão possível”, parece um pouco conformista. É por isso que ele não me agrada tanto.
Fê: Da pessoa talvez não querer melhorar, talvez não querer atingir o melhor que ela pode, alguma coisa assim.
Camila: É, não mudar a realidade, porque não é possível.
Ariadne: É, essa é a ideia muito vendida, né, de que se você não…
Ju: Você foi uma criança muito adaptada, Camila.
[todos riem]
Ju: Falou como perfeita criança adaptada.
Ariadne: É, porque, então, se eu entender as coisas de um modo X, e achar que está OK, então sou conformista, porque eu teria que me superar.
Ju: Sim, é o mito da superação.
Ariadne: Agora, o que é a superação?
Ju: Para quê, para quem, para onde?
Ariadne: Para quem, para onde, por quê?
Camila: Claro, tem que questionar.
Fê: Eu queria fazer uma citação, agora eu não tô lembrando o autor da frase, mas ele costuma dizer assim: “as pessoas sensatas tendem a se adaptar ao mundo; as insensatas tendem a tentar adaptar o mundo a si próprias. Portanto, toda evolução depende dos insensatos.”
Ju: Amém. [risos] Temos um programa? Então vamos para o Farol Aceso.
[Trilha]
Ju: Vamos para o Farol Aceso. Camila, o que você indica?
Camila: Eu indico um livro do Yuval Noah Harari, o primeiro livro dessa série chama “Sapiens: uma breve história da humanidade”, procurem “Sapiens”, está na prateleira principal de todas as livrarias, porque é um arraso, ele tem uma linguagem jornalística que é uma delícia – é um livro grande, mas você lê rápido, e sai com muito conteúdo, com muita bagagem – e o segundo dele, que ele lançou agora, é o “Homo Deus”, que é maravilhoso também, mas eu indico começar pelo “Sapiens”.
Ju: Fê, o que você indica?
Fê: Bom, as minhas indicações têm a ver com o Mamilos passado, onde o pessoal falou de amor e eu achei o programa maravilhoso, e eu achei muito legal quando o Oga recitou aquele poema, e falou dele olhando pra Maíra, achei muito bonitinho, eu vou recitar dois poemas que eu lembrei quando eu o vi recitando. Os dois são do Pablo Neruda, um mais curtinho, o outro mais longo, nenhum dos dois tem título, tá? O primeiro é assim:
“Quero apenas cinco coisas.
Primeiro é o amor sem fim
A segunda é ver o outono
A terceira é o grave inverno
Em quarto lugar, o verão
A quinta coisa são teus olhos
Não quero dormir sem teus olhos.
Não quero ser sem que me olhes.
Abro mão da primavera para que continues me olhando.”
Ju: Tá na casa dele, tem esse poema na entrada.
Fê: Tem? Eu acho lindo demais.
Ju: É lindo. Esse é lindo.
Fê: E o outro poema que eu acho que é um dos mais bonitos que eu conheço, dele também, do Neruda:
“Saberás que não te amo e que te amo
posto que de dois modos é a vida,
a palavra é uma asa do silêncio,
o fogo tem uma metade de frio.
Eu te amo para começar a amar-te,
e para recomeçar o infinito
e para não deixar de amar-te nunca:
por isso não te amo ainda.
Te amo e não te amo, como se tivesse
em minhas mãos as chaves da fortuna
e um incerto destino desafortunado.
Meu amor tem duas vidas para amar-te.
Por isso te amo quando não te amo
e por isso te amo quando te amo.”
Ariadne: “A palavra é a asa do silêncio”, foi isso mesmo que eu ouvi?
Fê: Ele falou: “a palavra é uma asa do silêncio”.
Ariadne: Ai, que lindo!
Fê: Cara, é tão profundo isso. Eu vou colocar na pauta aqui essas duas.
Ju: Ariadne?
Ariadne: Bom, eu vou indicar um livro que fala um pouco e que resume bem, eu acho, toda essa discussão que a gente teve, e que questiona um pouco essa necessidade de uniformização dos nossos tempos. Chama “Sociedade do espetáculo”, do [Mario] Vargas-Llosa. É um livro fácil, pequeno, mas assim…
Ju: Profundo.
Ariadne: Profundo!
Ju: Ele escreve lindamente, acho que ele é uma das pessoas de que eu mais gosto do jeito como escreve, no programa passado eu indiquei o “Travessuras de uma menina má”, que é dele também, que eu amo. O jeito como ele escreve, eu não sei como ele escreve, eu adoro. Eu vou indicar um conto supercurtinho, que tem a ver com a pauta, que é “O alienista”, do Machado de Assis. Quando eu falei qual ia ser a pauta, e pedi links, um dos ouvintes me indicou esse conto, e eu li faz tempo, e já reli, vou colocar um link para vocês lerem, ele fala justamente sobre esse questionamento do que é normalidade, como é que a gente define o que é normalidade e o quanto isso nos amarra, e o quanto isso nos…
Fê: Nos afasta, também.
Ju: Nos afasta e nos conforma, né? É uma arma de conformidade, uma arma para nos manter na linha. Então vale muito a pena. Temos um programa?
Fê: Temos um programa!
Ariadne: Temos um programa!!!
Fê: É isso aí! Namasteta para todo mundo!
Ju: Então, até semana que vem!
[Trilha]