
- Cultura 22.mar.2018
“Círculo de Fogo: A Revolta” fracassa por não entender universo criado por Guillermo del Toro
Continuação é mais barulhenta, óbvia e engraçada do que a obra original
“Tea For One” é um blues do Led Zeppelin lançado em 1976, parte do subestimado e brilhante álbum “Presence”. A canção é um desabafo sobre o peso do tempo, um lamento de um homem que sofre enquanto observa os ponteiros do relógio, e provavelmente foi composta durante uma experiência do vocalista da banda, Robert Plant, que ficou preso a uma cadeira de rodas (inclusive durante a gravação do disco) após um acidente na Grécia. O arranjo de guitarra de Jimmy Page acompanha a ideia, trazendo frases espaçadas, lentas e, portanto, que fazem cada segundo ter seu peso. Trinta anos depois, o ótimo guitarrista Joe Bonamassa fez seu cover da canção. Bonamassa, porém, parece não entender a ideia central de “Tea For One”, e fez de sua versão uma faixa com solos rápidos e extremamente técnicos, que colidem com toda a concepção artística original.
O mesmo parece ter acontecido com Steven S. DeKnight ao dar continuidade ao universo criado por Guillermo del Toro em “Círculo de Fogo”, de 2013 e levar os animes para Hollywood. Toda a referência à cultura japonesa e o trabalho de análise sobre os traumas dos personagens e como estes os projetavam nos Kaijus cede lugar a um filme interessado simplesmente em… Explodir. “Círculo de Fogo: A Rebelião” não é nem uma homenagem aos Tokusatsus e Animes, muito menos uma continuação digna para o filme de del Toro. É uma obra, assim como a canção de Bonamassa, sem alma e vazia, produzida por um artista que parece não ter entendido plenamente a ideia que foi alicerce do projeto original. Nas mãos de Steven S. DeKnight, criador da série “Spartacus”, o universo dos Jaegers e Kaijus tornou-se um produto enlatado de ação, sem vida e sem personalidade.

O diretor Steven S. DeKnight, à direita, no set
Acompanhamos o mesmo mundo do primeiro filme, mas dez anos depois. John Boyega encarna Jake Pentecost, filho rebelde do lendário Stacker Pentecost (Idris Elba no longa de 2013). Após o fechamento da fenda, a humanidade passou a viver um período de reabilitação, tanto estrutural, reorganizando as cidades devastadas pelos ataques Kaijus, quanto social, adaptando as pessoas às novas normas das sociedades pós-guerra. Há um clima de tensão militar, e as nações reconstroem os Jagers enquanto aguardam um possível retorno dos monstros. Jake e Amara, uma mecânica mirim fascinada por robôs gigantes, acabam envolvidos com a força militar americana e passam a treinar em uma academia especial para pilotarem seus próprios Jagers.
Os problemas do filme surgem desde o início. A narração em off do protagonista, que mastiga o máximo de informações possível enquanto assistimos a uma sucessão de imagens de contextualização, é o primeiro momento verborrágico de “A Rebelião”, que ainda possui mais incontáveis diálogos explicativos ao longo de sua primeira hora, a fim de moer em minutos tudo o que aconteceu no longa de 2013.
Nas mãos de Steven S. DeKnight, o universo dos Jaegers e Kaijus tornou-se um produto enlatado de ação, sem vida e sem personalidade
O desenvolvimento dos personagens é de uma falta de profundidade que assusta. Se o longa de 2013 tinha, em sua abertura, a cena que definia o caráter e os medos de seu protagonista, o de 2018 só se preocupa em criar algum cenário para seu herói, sem nunca oferecer espaço para que ele tenha camadas além do clichê do “filho revoltado” – clichê que é feito de maneira tão desleixada que é justo dizer que Jake é um Adonis Creed, de “Creed”, às avessas. Não só não vemos o que definiu Jake como indivíduo, como os acontecimentos são narrados sempre de forma rasa e circular, repetindo os mesmos temas sem nunca aprofundar nenhum deles.
Há combates baseados única e exclusivamente na destruição de prédios e ruas, sem nunca trazer algum elemento que destoe da fórmula Michael “Bayana”
Em certo ponto do filme, fica nítido para o espectador que “A Rebelião” não tem nenhum interesse em desenvolver personagens, mesmo que o básico seja necessário para que haja alguma ligação emocional entre público e obra. A intenção do filme de DeKnight é pura e simplesmente retratar bonecos feitos em CGI digladiando pela cidade. Diferente de Del Toro, DeKnight parece não compreender a cultura japonesa homenageada em “Círculo de Fogo”, e, por consequência, também não compreendeu o filme do mexicano. Claro, no primeiro filme, também há os combates entre Jaegers e Kaijus, mas há rusticidade e personalidade. São robôs com aparência imperfeita, marcas e improvisações, como, por exemplo, quando o Jaeger do protagonista utilizou um navio como arma.
Em “A Rebelião”, não há vida nos robôs. DeKnight deixa de homenagear o Anime e passa a reverenciar “Transformers”. Há combates baseados única e exclusivamente na destruição de prédios e ruas, sem nunca trazer algum elemento que destoe da fórmula Michael “Bayana” de máquinas gigantescas se destruindo com tiros, espadas e socos. Nem mesmo quando os confrontos resultam em mortes importantes há algum trabalho para criação de drama, a não ser o óbvio uso do slow motion para tornar as perdas mais impactantes. E vale ressaltar que essas perdas são sempre sucedidas por momentos mais engraçadinhos, o que não só tira o impacto do filme, como o eleva para um nível de galhofa muito mais severo do que foi visto na obra original.
Mesmo com todos os seus poréns, “Círculo de Fogo: A Rebelião” poderia muito bem ser um filme de ação genérico, mas com valor de diversão. Há, contudo, alguns pontos da obra que impedem que o entretenimento pelo entretenimento seja efetivo. Um dos principais problemas é a ausência de desenvolvimento dos personagens: a união de uma dupla para comandar um Jaeger é, além de um risco físico pela interdependência, um exercício de equilíbrio mental, já que o primeiro filme estabelece que, para pilotar a máquina, a dupla deve ter uma conexão mental e equilíbrio psicológico.
Quando os personagens precisam trabalhar seus traumas a fim de manterem um equilíbrio mental (e consequentemente manusearem os Jaegers), o filme simplesmente joga memórias e espera que elas tenham impacto, sendo que não há, anteriormente, nenhuma cena que crie o cenário para isso, como há no filme de del Toro. Como resultado, as cenas de ação são emocionalmente insípidas, servindo apenas para deleite visual de um trabalho de computação gráfica tão perfeito que excede os limites e distancia o visual da rusticidade mencionada nos parágrafos anteriores. Aqui, os robôs possuem um estilo perfeito demais, esculpido demais. Não há espaço para a sujeira; portanto, também não há espaço para a imersão.
Outro fator que muito prejudica a narrativa de “Círculo de Fogo: A Revolta” é a falta de esforço dos personagens para alcançar qualquer conquista. Recursos Deus ex machina surgem a esmo, inserindo desde Jaegers até ferramentas e personagens que surgem de forma inexplicável para resolverem qualquer questão que o momento exija. Bem como as soluções mágicas, a falta de peso nos acontecimentos mais dramáticos também impede que o clímax traga qualquer seriedade. Um personagem pode ser o responsável pela destruição do planeta, mas o outro não terá coragem de pará-lo por afeto; outro personagem pode ter vivido a vida inteira uma relação com um outro, mas a morte de um deles não trará nada que não um luto de dois minutos.
“Círculo de Fogo: A Rebelião” é um enlatado que pode até divertir, mas fecha os olhos para tudo de mais interessante criado no universo
De todas as constatações feitas, a mais triste é a de que, no meio da farofa de robôs perfeitos caminhando pela cidade, há muito material interessante e subaproveitado. Há uma cena em Sidnei, por exemplo, que traz a apresentação de um novo projeto militar. A cena abre justamente com um plano geral da cidade com um canhão apontado para ela, o que remete diretamente a um clima de coerção estatal. O projeto de procurar e neutralizar Jaegers piratas também surge como um elemento que permite o debate sobre controle governamental e liberdade de expressão, mas tais nuances vão se perdendo aos poucos, até que se desfazem e sobra apenas a ação pela ação.
Ao pensarmos sobre os pontos aqui levantados sobre “Círculo de Fogo: A Rebelião”, podermos concluir que DeKnight parece não entender o básico para que seu filme funcione, nem como referência aos Tokusatsus e Animes, nem como continuidade do universo criado por Guillermo del Toro. Assim como não há nenhuma referência digna à cultura ocidental – a não ser o fato de haver monstros gigantes no Japão -, também não há um esforço para dar continuidade a visão de Del Toro no longa-metragem de 2013, que trazia os Jaegers e Kaijus não simplesmente como robôs e monstros, mas como formas de seus protagonistas lidarem com seus medos e traumas (como diz a frase do protagonista Raleigh: “para lidar com os monstros, nós criamos nossos próprios monstros). O filme de Steven S. DeKnight, então, é um “Transformers” com um montador melhor; um “Power Rangers” sem a hora de morfar. Um enlatado que pode até divertir, mas que fecha os olhos para tudo de interessante criado no universo.








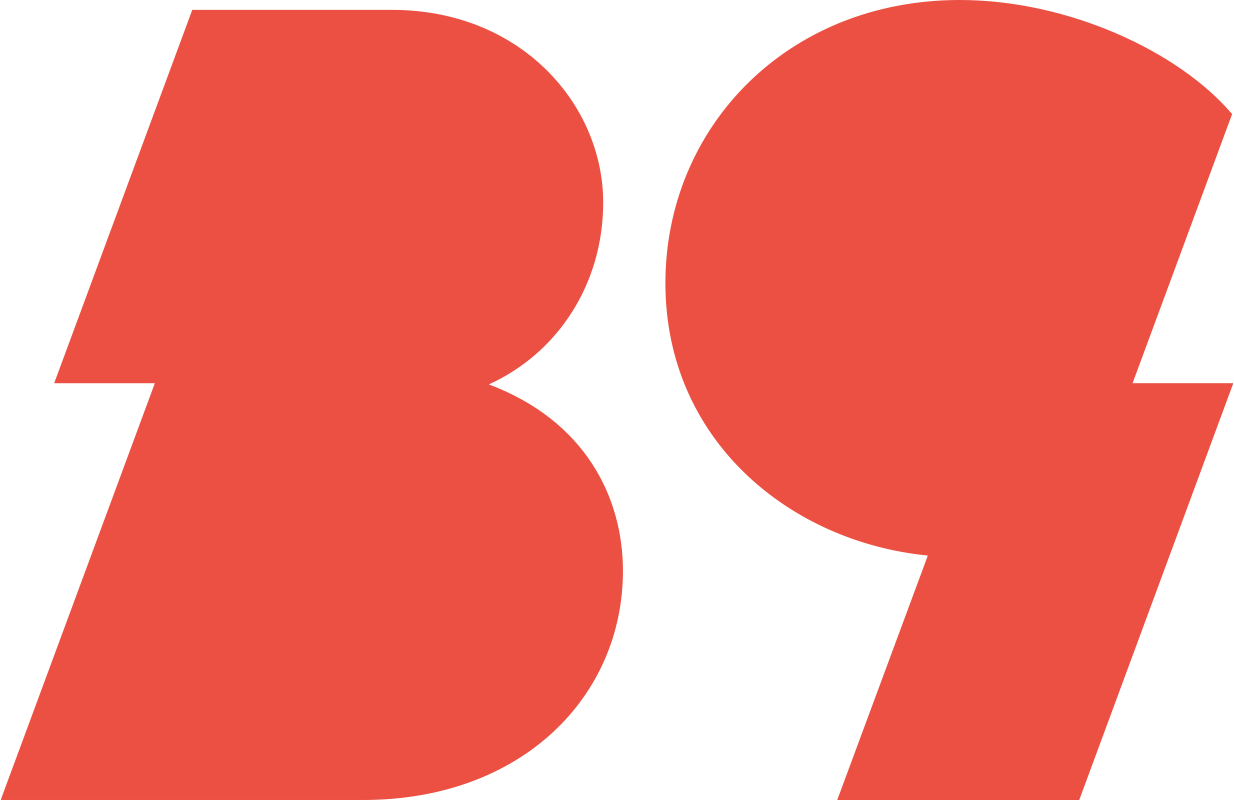










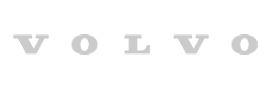







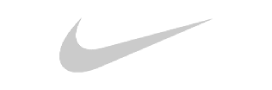


























Comentários
Sua voz importa aqui no B9! Convidamos você a compartilhar suas opiniões e experiências na seção de comentários abaixo. Antes de mergulhar na conversa, por favor, dê uma olhada nas nossas Regras de Conduta para garantir que nosso espaço continue sendo acolhedor e respeitoso para todos.