
- Cultura 15.fev.2018
Sensacionalismo domina todos os lados da história de “Eu, Tonya”
Indicado a 3 Oscar, filme faz o registro da vida de ex-patinadora artística Tonya Harding sob as vias de um espetáculo conduzido no escracho
Tonya Harding é um destes grandes símbolos das deficiências do american way que ora ou outra surgem no curso histórico estadunidense. Nascida no Oregon, a ex-patinadora artística foi a primeira norte-americana e a segunda mulher na História da competição a conseguir realizar um salto axel triplo – difícil movimento que consiste basicamente de durante a performance pular com um pé, dar três rotações no ar e aterrissar de costas com o outro -, mas sua figura bruta e distante da leveza requerida para a modalidade a tornaram numa espécie de persona non grata no meio competitivo. Graças ao envolvimento de pessoas muito próximas a ela no ataque físico a uma de suas principais adversárias americanas, poucas semanas antes da realização das Olimpíadas de Inverno, este sentimento de repulsa se tornou em prerrogativa para bani-la do esporte, condenando-a a uma vida de subcelebridade disposta a tudo para pagar as contas – incluindo lutar boxe(!).
Só neste ato de repassar por cima a sua trajetória já dá para perceber o quanto a história de Harding tem potencial para uma lógica narrativa maior, uma aos moldes da representação das ambições e fracassos do indivíduo perante uma cultura deturpada e consagrada pelo “Cidadão Kane” de Orson Welles na longínqua década de 1940. Não é uma surpresa, então, que esta propensão se converta de alguma forma em “Eu, Tonya”, cinebiografia da patinadora que é conduzida pelo diretor Craig Gillespie como mais um destes grandes arcos que marcam o imaginário popular do país por toda a sua duração histórica. Este viés de glória e destruição, porém, está longe de servir de pedra fundamental à estrutura do filme, se portando como vulto para um tipo de produção que vem ocupando um espaço cada vez maior no cinema estadunidense atual: a comédia de erros.

Margot Robbie e Craig Gillespie no set

É um olhar à margem feito em cima da disrupção visual proporcionada por Harding, cuja figura alta e robusta surgia como uma forte quebra de expectativa no “bom mocismo” das colegas “queridinhas” e ao qual o longa tenta reproduzir constantemente na performance de Margot Robbie. A protagonista, porém, é só a base de um grupo de personagens estereotipados, retratados em um cenário digno do white trash – uma cultura bastante demarcada na trilha sonora – com todo o exagero que lhes é possível. Do marido fracassado e violento (Sebastian Stan) à mãe negligente e insuportável (Alisson Janney), a produção abusa do olhar caricato, afim de intensificar o olhar cômico sobre as situações e toda a sequência de absurdos que levaram ao exílio da patinadora.
O filme esboça uma abordagem que acredita ser fora do convencional, cruzando declarações documentais encenadas com uma dramaturgia moderna e regida na ironização dos fatos
Esta amplificação do escracho prevalece como modo de operação maior de Gillespie na narrativa, mas o que o diretor e sua produção não percebem é o quão reducionista esta metodologia pode ser à trama e seus personagens. Se o filme busca algum tipo de humanização da figura de Harding frente aos diferentes abusos nos quais foi submetida, todas estas intenções se esvaem perante uma necessidade constante do roteiro em relevar os eventos afim de algum tipo de comédia, seja em caráter formal (nas quebras de quarta parede ou interferências de algumas declarações na história) ou mesmo situacional (é impressionante como a mãe de Tonya é tratado como uma piada virulenta mesmo nos momentos mais dramáticos). O resultado é canhestro: qualquer peso emocional almejado pela obra é desarmado em prol da ironia, de um apontar de dedos quase ignorante traduzido na máxima “Vocês são meus agressores” que a protagonista diz em determinado momento de seu depoimento à câmera.
Assim, o que começa como um olhar à margem e ditado por indivíduos que admiram o sonho americano de longe aos poucos se revela um relato pautado em extravagâncias e imediatismos digno do circo midiático em torno de Harding. No fundo, Gillespie almeja aqui um resultado estético mais ou menos parecido ao do “O Lobo de Wall Street” de Martin Scorsese, que também abordava o sonho americano pelas vias da banalização por meio de uma formatação hiperativa, mas ele apela aos moldes narrativos do cinema dos irmãos Coen por ter um mínimo de consciência do deslocamento da sua história em relação ao panorama geral – ocorrido em janeiro, o caso de Harding seria evaporado do noticiário poucos meses depois por conta da magnitude da prisão e posterior julgamento de O.J. Simpson (que nunca chega a ser mencionado no filme).
Qualquer peso emocional é desarmado em prol da ironia, de um apontar de dedos quase ignorante traduzido na máxima “Vocês são meus agressores”
Sob este ângulo, “Eu, Tonya” divide muitas de suas características com o “Três Anúncios Para um Crime” de Martin McDonaugh, outro produto badalado da mesma temporada de premiações que também recorre aos Coen para construir uma análise sobre os Estados Unidos. Mas se no filme de McDonaugh o problema está nesta inabilidade palpável de trabalhar temáticas e questões sociais estadunidenses, aqui o gatilho para o colapso mora na incapacidade da produção em conciliar este esforço de análise com o próprio gênero que o define: enquanto os cineastas responsáveis por “Onde os Fracos Não Tem Vez” e “Bravura Indômita” recorrem ao humor como método de desarme à ambição de suas narrativas ou para lembrar o espectador da fragilidade por trás de seus personagens, Gillespie torna o sarcasmo em engrenagem principal de seu drama tragicômico na esperança de preencher sua narrativa de sentido e obter um valor emocional imediato à partir disto.
A sensação que fica, porém, é de sensacionalismo barato, daqueles que são minados de referências visuais somente no intuito de provar sua adequação perante o julgamento do público – se Harding termina sua trajetória no sonho dentro do ringue de boxe, é óbvio que o longa fará seu aceno a “Touro Indomável”
, por exemplo. “Eu, Tonya” almeja redimir a ex-patinadora aos olhos do espectador e isentá-la de seus crimes, mas o que ele consegue no fim é apenas afundar ainda mais sua protagonista no caos midiático e espetacularizado, cujos flashes a cegam de duras constatações e a reduzem de novo a um (outro) estereótipo digno de exploração. Nesta cruzada pinoquesta, Tonya está condenada a ser uma eterna atração de um espetáculo, agora em uma nova roupagem e dinâmica.






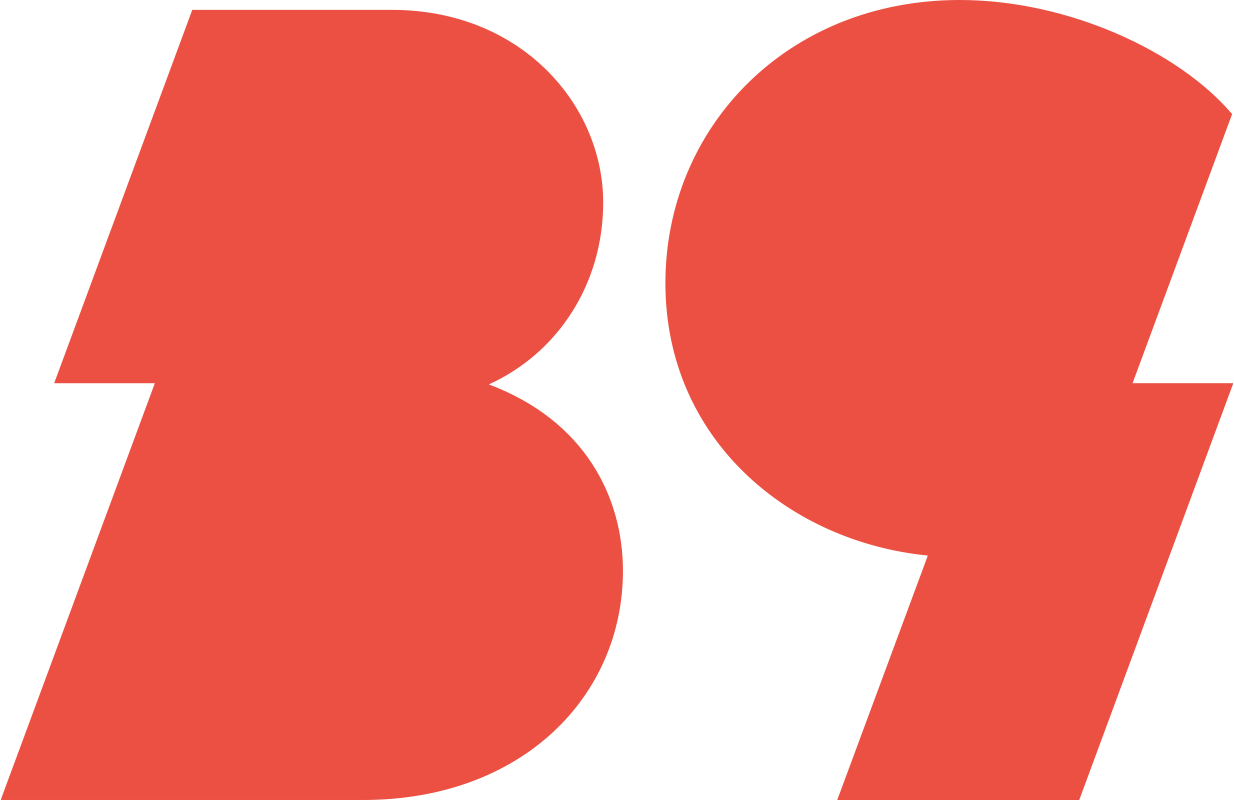










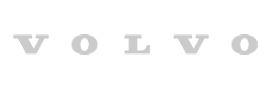







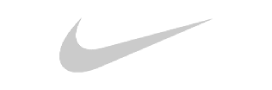


























Comentários
Sua voz importa aqui no B9! Convidamos você a compartilhar suas opiniões e experiências na seção de comentários abaixo. Antes de mergulhar na conversa, por favor, dê uma olhada nas nossas Regras de Conduta para garantir que nosso espaço continue sendo acolhedor e respeitoso para todos.