
- Cultura 15.dez.2016
“Rogue One”: um “Star Wars” único na aparência e familiar no conteúdo
Dirigido por Gareth Edwards, primeiro filme da nova série antológica tem visual e tom únicos na franquia, mas reforça conexões com a trilogia original

Na era dos remakes, reboots, revivals, prequels e spin-offs, o sucesso e a ruína de muitos lançamentos têm a mesma origem: a insistência em uma fórmula responsável por consagrar a franquia em primeiro lugar. Por um lado, a opção pela familiaridade é certeira para atender os fãs, interessados acima de tudo na emoção despertada por revisitar mundos e personagens conhecidos. Por outro, é difícil negar a relação entre o conforto de poder contar com uma fatia do público já conquistada antes mesmo da data de estreia e a falta de imaginação de tantos produtos reciclados, mas vendidos como novos.
“Rogue One” tenta escapar do risco da repetição de várias formas. Fascinado pelo universo “Star Wars”, com reverência especial para a trilogia original, o diretor Gareth Edwards não parece contente em simplesmente reproduzir as batidas das obras existentes. Na comparação com o outro realizador novato da série, J.J. Abrams, ele toma mais liberdades em sua narrativa, embora esteja limitado pelos eventos que iniciam “Uma Nova Esperança” — na cronologia atualizada, o filme mais recente se insere imediatamente antes do longa de 1977.
Nesse sentido, a história escolhida para inaugurar essa série antológica no cinema não poderia ser mais acertada. Em vez de jedis que cumprem seu nobre destino, temos aqui rebeldes comuns que desafiam a ordem estabelecida. Mudam os heróis e suas motivações, muda a relação entre eles e a Força.

Gareth Edwards, centro, no set
Essa alteração de foco é acompanhada por diferenças na estética. Pela primeira vez a franquia usa digital, não película. Indo na contramão de “O Despertar da Força”, justamente elogiado por se manter fiel às raízes e emular a aparência dos filmes de George Lucas, Edwards aposta na agilidade da câmera na mão, que aproxima o espectador da ação.
Nada mais adequado para uma produção que toma “O Resgate do Soldado Ryan” como referência e que tem como fotógrafo Greig Fraser, de “A Hora Mais Escura”. Os combates em terra são tão realistas quanto poderiam e funcionam, sobretudo, quando aproveitam as especificidades de cada terreno — neve, água e areia influenciam os embates assim como determinados aspectos do espaço. O tratamento dado às cores é outra manifestação do estilo próprio desse episódio, que deixa de lado a claridade da Millennium Falcon e o brilho dos sabres de luz para retratar os cantos mais sombrios da galáxia.
Nas sequências diurnas, a poeira é o elemento central, pintando de cinza e marrom tudo o que toca. Nas noturnas, e elas são muitas, a escuridão dominante serve para conferir maior impacto aos momentos decisivos, quando cores vivas preenchem a tela instantaneamente e revelam a evolução das cenas. Durante uma operação, por exemplo, cada nova explosão apresenta um posicionamento diferentes dos rebeldes, que avançam em blocos; nos intervalos em que ficamos literalmente no escuro, permanecemos assim também figurativamente. Vale notar certo incômodo com relação ao 3D, que oculta detalhes pela escuridão, mas ao menos a proposta estética não acaba comprometida por isso.
O diretor Gareth Edwards aposta na agilidade da câmera na mão, aproximando assim o espectador da ação
Após um belo prólogo na neve que reúne seus dois melhores atores, “Rogue One” passa diretamente à ação, saltando de astro em astro para reunir seu elenco. Esse segmento é relativamente curto, muito em função da necessidade de abordar as subtramas que alimentam a missão principal de impedir a ativação da Estrela da Morte, ponto de partida para o longa e também para sua função de elo entre os episódios III e IV.
O grande mérito da construção visual Edwards está em saber trabalhar a mitologia sem abandonar sua concepção sobre o projeto. Se em “Godzilla” ele foi capaz de perceber que a sombra do mostro poderia ser tão poderosa quanto seu próprio corpo, confiante na associação imediata entre a silhueta e o temor que ela representa, aqui seu olhar se volta para referenciais já absorvidos pela cultura pop, mas encarados sob outra perspectiva.
A maior expectativa fica por conta de reaparições como a de Darth Vader (voz de James Earl Jones), que não deixam a desejar e aumentam o ritmo de maneira surpreendente. O mesmo não pode ser dito sobre o retorno de Tarkin (Peter Cushing), que primeiro aparece como homenagem, mas logo se torna apenas uma distração — segue inexplicável a decisão de recriar em computador e dar tanto tempo de tela à versão digital do ator, falecido há mais de vinte anos.
O grande mérito da construção visual Edwards está em saber trabalhar a mitologia sem abandonar sua concepção sobre o projeto
É compreensível que as mudanças de tom e escala sejam aquelas que mais saltam aos olhos. A direção opta por fundar sua atmosfera particular no peso de sua premissa e em uma concepção clara de ação (rápida, suja e capaz de evidenciar o gigantismo da galáxia em relação aos seres responsáveis por salvá-la). No meio do caminho, porém, a energia que tornava os originais tão inesquecíveis se perde aos poucos, e a decisão de diluir a trama em várias frentes não se prova a mais certeira.
Em um momento inicial, atribuir diferentes responsabilidades aos personagens principais gera dinâmicas interessantes. Cada um dos rebeldes possui origens, destinos e habilidades específicas, e a forma como eles se dividem no interior do próprio grupo remete à configuração de “Sete Homens e um Destino”, por exemplo.
Os maiores destaques são Chirrut (Donnie Yen, o gênio de “O Grande Mestre”) e o androide K-2SO (dublado por Alan Tudyk). O primeiro incorpora a ideia de Força em uma narrativa que, como já dito, não conta com jedi em seu núcleo central. O segundo cumpre o papel de alívio cômico, sempre tendendo ao humor seco que, na série, consagrou figuras como Harrison Ford. Ambos são exemplos de usos inteligentes da nostalgia, pois apelam para sensações familiares sem reproduzir passo a passo suas referências — vale notar, a última aparição de Yen é o momento mais lindo do filme ao lado do trecho envolvendo a Estrela da Morte.
Sem manter esse nível, Bodhi (Riz Ahmed), Cassian (Diego Luna) e Baze (Wen Jiang) são somente instrumentais; cumprem suas funções nas missões sem grande brilho e entregam interpretações coerentes com o que o texto de Chris Weitz e Tony Gilroy oferece. Não é muito, especialmente em termos de diálogo, mas figuras como Saw Gerrera (Forest Whitaker) têm destinos ainda piores.
De todo modo, quem mais sofre entre o elenco de rebeldes é Jyn (Felicity Jones). Sua transformação é essencial para o longa e, apesar de ressaltar constantemente que ela é a chave para a trama, o roteiro nunca permite que a personagem se desenvolva plenamente. Falta algo que caracterize essa mudança como gradual, do modo que ela é sugerida em discurso, e não imediata. Algo que indique como a garota conformada, que afirmava bastar “não olhar para cima” para ignorar a bandeira do Império e tudo o que ela significa, adquiriu tamanho comprometimento com a liderança da insurgência. Algo que torne mais convincente seu discurso motivacional para o conselho e os soldados antes da batalha decisiva.
A comparação pode parecer desleal, mas é também inevitável: a maneira como “Rogue One” trata seu elenco deve muito em relação a “O Despertar da Força”. É verdade que os contextos são bastante diferentes. O episódio VII tem a seu favor a proximidade com o núcleo jedi, repleto de ícones tão marcantes, e a promessa de uma trilogia inteira adiante, o que dá mais tranquilidade para construir os protagonistas. Edwards, por sua vez, tem em mãos uma história fechada, o que permite investir nos aspectos dos personagens mais relevantes para aquela aventura específica.
A energia que tornava os originais tão inesquecíveis se perde aos poucos, e a decisão de diluir a trama em várias frentes não se prova a mais certeira
O problema é que o diretor assume mais responsabilidades do que pode cumprir. Jyn acaba presa a um enredo desnecessariamente complicado enquanto o longa tenta amarrar a trama, dar atenção a uma legião de coadjuvantes e entregar easter eggs aos fãs mais saudosistas (e eles existem aos montes). Ray e Finn também estavam em movimento constante, mas a primeira parte de suas histórias contava com uma progressão direta de eventos, que evitava distrações menores em prol da jornada dos heróis.
Do outro lado do espectro, Krennic (Ben Mendelsohn) surge como um vilão respeitável. O fato de se tratar de um burocrata não é problemático: ao contrário, os embates na estrutura do Império ajudam a equilibrar o ritmo da primeira metade da produção, em contraste com a ação intensa dos rebeldes. Além disso, a disputa por poder abre espaço para que figuras ainda mais poderosas deem as caras nas horas mais decisivas.
Apesar dos contratempos mencionados ao longo do texto, “Rogue One” parece caminhar para um encerramento memorável. As consequências daquela missão já são conhecidas, mas o percurso tem elementos de sobra para impressionar: os heróis foram apresentados, o antagonista teve suas motivações reveladas e o cenário talvez seja o mais empolgante de toda a franquia, trazendo combates simultâneos entre exércitos, naves e indivíduos. Algumas decisões, no entanto, fazem o longa derrapar.
Conhecer novas camadas desse universo tem seu valor, mas é fácil perceber que parte do que está em tela é só acabamento para a história verdadeiramente original
Uma vez estabelecida a importância da missão, as etapas até concluí-la soam um tanto banais. A lista de desafios inclui acionar uma alavanca, quebrar um escudo, procurar uma mensagem num arquivo e conectar uma transmissão, o que torna a ação da meia hora final mais mecânica do que propriamente inspirada. Edwards até demonstra habilidade para manter tudo em movimento enquanto revela o desfecho de cada personagem, mas o encerramento de sua jornada ainda depende imensamente do vínculo com os originais.
As menções diretas e rostos conhecidos funcionam para consolidar essa ponte entre antologia e trilogia. No entanto, tais recursos não contribuem para a tentativa (bem-sucedida em termos visuais) de criar uma obra com identidade própria. Por mais que conhecer novas camadas desse universo tenha seu valor, é cada vez mais fácil perceber que parte do que está em tela não passa de acabamento para a história verdadeiramente original. Se a sensação de satisfação final existe, ela depende mais de uma relação com os filmes anteriores do que dessa nova experiência, que ameaça ser única, mas logo se conforma em ser uma em oito.












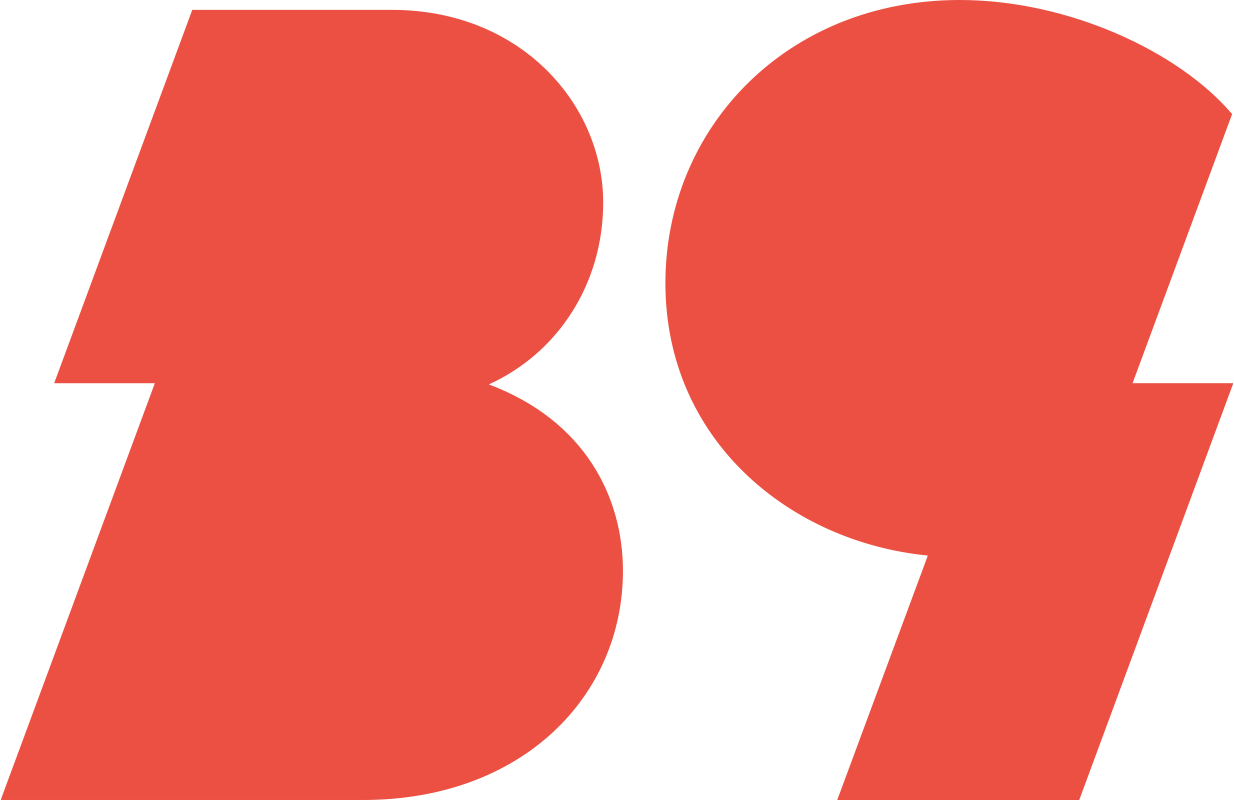










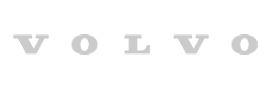







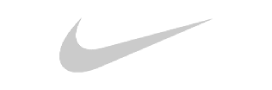


























Comentários
Sua voz importa aqui no B9! Convidamos você a compartilhar suas opiniões e experiências na seção de comentários abaixo. Antes de mergulhar na conversa, por favor, dê uma olhada nas nossas Regras de Conduta para garantir que nosso espaço continue sendo acolhedor e respeitoso para todos.