“12 Anos de Escravidão” e duas horas de vergonha
Filme de Steve McQueen incomoda não só pela lembrança da escravidão, mas pela maldade existente no coração dos homens

Muito se falou em escravidão quando “Django Livre” estreou com uma visão estilizada, pop e até cínica de Quentin Tarantino. Um dos maiores pontos de discordância por aqui foi a seriedade, ou a falta dela. Escravidão é assunto sério, e ainda influente na vida de muitos norte-americanos (lembremos que a segregação foi consequência direta e só terminou em 1964, mesmo que muita gente diga que ela nunca terá fim), logo, não existe meio termo.
Embora “Lincoln” tenha usado o assunto como pano de fundo para contar a vida do presidente assassinado, faltava um novo filme contundente sobre o tema. A polêmica veio em duas partes: primeiro, a crescente reclamação de que a vida do negro norte-americano só ganha espaço nos grandes filmes pela violência ou pela escravidão, de acordo com vários articulistas e figuras da comunidade; depois pela identidade do diretor e do astro principal, afinal, Steve McQueen (indicado ao Oscar de Melhor Diretor) e Chiwetel Ejiofor (indicado a Melhor Ator) são ingleses, o que os desqualificaria para abordar o assunto. Eis que o filme estreia e a maioria das vozes se calam. Por uma simples razão. Como realização cinematográfica, ele é fantástico! Como documento social, é incômodo e vergonhoso. E precisa ser visto.
Uma cena é marcante em “12 Anos de Escravidão” mostra o fazendeiro de algodão vivido por Michael Fassbender (indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante) encontrando na Bíblia a justificativa para seus direitos de posse dos escravos e o modo bruto e estúpido como os trata. A mesma Bíblia que ensina os escravos a escutarem, terem fé e acreditarem na ressurreição. Quem Fassbender tenta convencer? Seus deuses, cujas palavras o autorizam? A esposa furiosa pelas relações sexuais do marido com uma das escravas? Ou a si mesmo, para encontrar algum moralismo e razão que justifique a violência?

O diretor Steve McQueen no set

As respostas não importam, pois a lei e os costumes validavam assassinatos, brutalidade e tortura. Tudo isso já seria forte o suficiente para envergonhar todos que, ativamente ou não, conviveram com essa condição por anos, mas há uma particularidade no roteiro (indicado a Melhor Roteiro Adaptado) e na história original de Solomon Northup: ele era um homem educado, violinista exemplar e pai de família. Seu único “crime” era ser negro, seu único “erro” foi confiar em homens que lucravam com o sequestro de homens livres nos estados do Norte e a venda deles como mercadoria no Sul.
E daí surge a grande questão do filme: se apenas a cor separava (ou separa) um homem digno de respeito de uma simples mercadoria (ou coisa a ser explorada), e, hoje em dia (pelo menos oficialmente) a escravidão é proibida, o que separa qualquer ser humano de passar pelas mesmas provações e absurdos? E a resposta é triste. Nada. Não faltam casos de escravidão involuntária, exploração infantil, cativeiros de décadas, trabalho forçado e dívidas impagáveis transferidas de pai para filho por fazendeiros em diversos países, inclusive no Brasil.
A sociedade pode ter dado um grande passo ao abolir a prática sem, de fato, extirpar o conceito da superioridade absoluta de um ser humano sobre outro. “12 Anos de Escravidão”, ou 2 horas de vergonha (pois foi isso que senti ao longo da projeção), é um chamado à auto-análise, à reavaliação de tudo que se ouviu ao longo da vida sobre o período e as atrocidades nele cometida e ao questionamento de seus próprios conceitos. Claro, ninguém aqui é escravagista (assim espero!), mas será que nunca praticamos atos similares em outras circunstâncias? Todo dono de escravos tinha a razão de estar certo. Perante deus, leis e seus “iguais”.
“12 Anos de Escravidão” é um chamado à auto-análise, à reavaliação de tudo que se ouviu ao longo da vida sobre o período e suas atrocidades
Como pai de família, vivi aquele fim de mundo de forma intensa. Solomon foi sequestrado, vendido, espancado, flagelado, estrangulado e a lista continua. Por vezes, salvo por seu violino; noutras, pela pura sorte. O acaso é o grande juiz, levando alguns, poupando outros. Sem justificativa, sem razão. Apenas a manifestação clara da loteria social. Abominamos a escravidão por conhecer a essência desse mal, por estudarmos seus terríveis efeitos e, felizmente, por conhecermos histórias que geram uma certeza: a Humanidade perdeu com esse episódio. Há, mas escravidão sempre existiu, os gregos, os romanos e etc. Claro, mas uma hora precisava acabar, não? Tempo de serviço não legitima estupidez.
Boas participações de Bennedict Cumberbacth e Chris Chalk dão peso ao elenco de apoio, que conta com participação do também produtor Brad Pitt, mas as emoções são garantidas pelo simpático e modesto Chiwetel, num tour de force extraordinário. 12 anos se passam na narrativa. Quase todo esse tempo é sentido pelo abandono, pela luta solitária, pela resistência de um sujeito disposto a voltar para a família… e voltar a ser livre.
McQueen tinha tanta certeza da escolha para o protagonista, e em sua habilidade, que, num dos pontos altos, foi contra todas as regras modernas e simplesmente parou a câmera. Deixando Chiwetel trabalhar. Ou melhor, sofrer em frente a milhares de espectadores. Tanto a pausa quanto a atuação são angustiantes. Estamos diante de um homem que está perdendo seu tempo, sua vida. Nada mais justo que o público sinta esse incômodo, veja seu desejo crescente de novidade e movimento ser cerceado.
O filme tem vários vilões, entre eles Paul Dano, em novo papel de maluco descontrolado (sua especialidade) e o maior de todos, Michael Fassbender, fruto da sociedade e economia de seu tempo. A esposa não lhe atrai, pois ela não está sob seu controle; é opositora. A escrava linda atende a suas necessidades, comprova a virilidade. Ele é praticamente uma criança mimada com uma bazuca, discorde dele e boom!
Uma realização cinematográfica fantástica, e um documento social incômodo e vergonhoso
Os demônios de Fassbender são os mesmos das proto-celebridades de hoje em dia, ele precisa ser adorado, temido, respeitado, idolatrado. Se não está no foco da atenção, não é nada; desaparece na vastidão das próprias terras e embaixo da saia rodada da esposa dura na queda. Ele vive do show e termina esperneando não necessariamente por lhe tomarem o brinquedo favorito, mas por ignorarem tudo que ele é e acredita.
Embora seja filme de época, alguns paralelos atuais são inevitáveis. Os escravos são examinados e vendidos sem controle sobre seu destino, expostos e descartados caso não atendam as demandas dos compradores. Atualmente, fazemos algo parecido por livre e espontânea não? Colocamos nossos corpos, ideias, realizações, sonhos e opiniões à venda, expostos sem nenhuma barreira, à espera do melhor comprador, que vai se apropriar da sua postura, influenciar como você vive e ter o poder de lhe deixar sem dinheiro no mês seguinte, se assim desejar.
Forcei a barra? Sei não. Pode até ser o cerne das relações de trabalho, mas, estamos, de fato, de pé, em praça pública, querendo ser escolhidos pelo melhor senhor. Fazer isso no Facebook, na Campus Party ou no Twitter pode mudar a embalagem, mas não altera a essência. Ah, mas escravos não tinham opção. E você, tem?
———
Fábio M. Barreto é jornalista e autor da ficção brasileira “Filhos do Fim do Mundo”
.





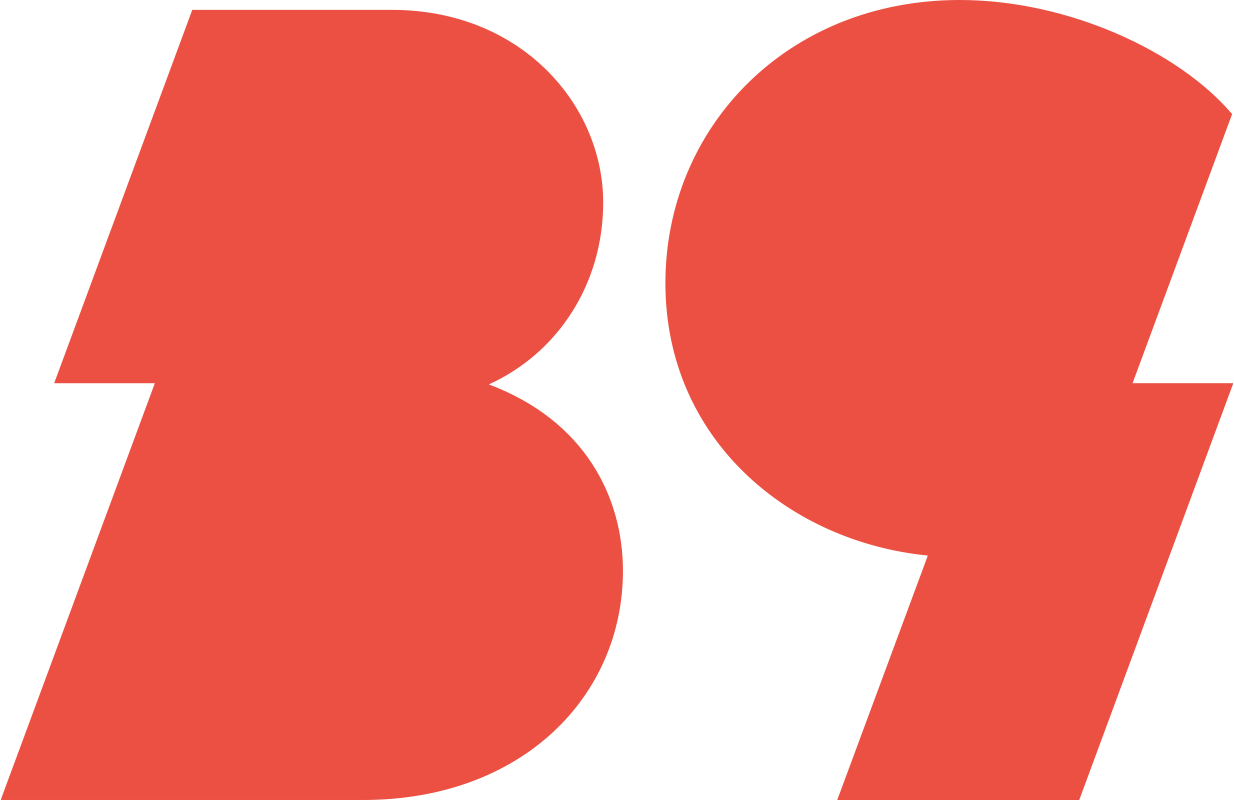










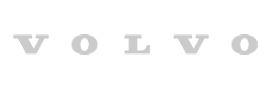







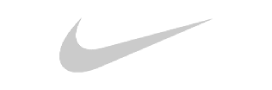


























Comentários
Sua voz importa aqui no B9! Convidamos você a compartilhar suas opiniões e experiências na seção de comentários abaixo. Antes de mergulhar na conversa, por favor, dê uma olhada nas nossas Regras de Conduta para garantir que nosso espaço continue sendo acolhedor e respeitoso para todos.