
- Cultura 18.nov.2021
Feito no automático, “A Crônica Francesa” é ode de Wes Anderson à arte da narrativa
Homenagem do diretor ao jornalismo e escritores se faz na cumplicidade com o público para brincar com o relato enquanto contação de histórias
Não é lá tão difícil entender o ponto de “A Crônica Francesa” antes dos créditos finais rolarem, quando o diretor Wes Anderson revela dedicar a obra a um seleto grupo de escritores que passaram as carreiras escrevendo em jornais de toda sorte. A história do veículo do título enuncia seu predicado sem muita sutileza logo no início, quando a narradora confirma que a morte de seu fundador e editor (Bill Murray) também significa o fim da revista e revela na sequência que a última edição é uma coletânea de artigos republicados escolhidos a dedo pelo falecido – tornando a produção, assim, em uma grande versão visual de todas as histórias incluídas.
Ensaia-se a partir daí um filme de antologia no formato mais ou menos esperado de seu cineasta, cuja sede crescente por um rigor estético toma os centros das atenções de seus projetos pelo menos desde “Moonrise Kingdom”. Na prática, é mais uma casa de bonecas de Anderson com o diferencial de uma história única esvaziada em seu núcleo: com o protagonista maior reduzido a uma presença pontual (fora do escritório, Murray se envolve nos eventos em apenas uma ocasião), a produção se concentra no registro das 3 reportagens maiores e do conto do fascículo, bastando-se nas informações dispostas na introdução e de pequenos interlúdios para costurar a narrativa em torno do saudoso patriarca da revista.
Essa combinação de fatores não inspira grande confiança, e para além dos prazeres derivados da estética sempre agradável das narrativas orquestradas pelo diretor é difícil não sentir a receita para o desastre se formando no horizonte. Mas ainda que muito de “A Crônica Francesa” se perceba como um trabalho resolvido na base do piloto automático por seu criador, da orientação primária do olhar pelo que é agradável à narrativa de afetos e ressentimentos não manifestados (e passando até mesmo na escala crescente de possibilidades como autor de butique), o filme também nunca se entrega de fato como objeto de vontades superficiais, não pelo menos da forma que outro “Ilha dos Cachorros” despertaria dentro da carreira do diretor. Não há volume nos feitos narrativos, é verdade, mas a homenagem pretendida também não se dispõe como mero capricho.

O longa nesse sentido é bem mais discreto do que aparenta ser a princípio em seu exercício. Wes Anderson trabalha aqui com mais uma de suas narrativas de perda, nos mesmos moldes de “O Grande Hotel Budapeste” em que se amplia a escala de uma perspectiva pessoal para um comentário mais “nobre” de época e geração, mas o procedimento distanciado sugere um redirecionamento de lógica para longe da posição de lamento sobre o cenário. O movimento, claro, surge por questão de necessidade e não opção preferencial, sobretudo porque a figura chave do filme é inteira ausente da lógica interna – ainda que o jornalista de Jeffrey Wright nutra uma relação tenra, o editor de Murray nunca é visto pelo espectador numa posição paternal ou mesmo familiar, enquadrado melhor como figura mítica que orbita os mundos de seus repórteres.
Se esse posicionamento explica melhor o vazio sentimental da narrativa (e o próprio desfecho elucida tal propósito sem grande floreio), ele diz muito da posição peculiar da obra na carreira do cineasta. Anderson desde sempre trabalha seus filmes em uma mesma chave de elucidação, retratando dinâmicas de relacionamento afetadas em algum nível por uma presença inescapável que as prende a um mesmo ponto e espaço, e esse procedimento até então se mantinha intacto pela modulação das partes.
Mas se de “Pura Adrenalina” a “Ilha dos Cachorros” é possível traçar uma mesma linha de raciocínio no preceito da base de confiança do autor, em “A Crônica Francesa” os valores se invertem. Com a estética estabelecida como esse ponto de partida (um esforço que parece já render comparações inusitadas do diretor com a obra de Jacques Tati), a produção almeja temas a este cinema mais extravagante – o que faz sentido, se considerar a posição atual do diretor na indústria. A questão é o que, e nesse ponto beira ao cômico assistir Anderson tentar algum comentário de temas mais embasados como maio de 68 ou até o mercado da arte.

Com a estética estabelecida como ponto de partida, a produção almeja temas a seu cinema mais extravagante
É nessa busca que o filme existe, porém, e a desconstrução que se segue sozinha parece bancar a aposta de Anderson na homenagem feita a tantos autores literários – até porque o diretor segue muito esperto para bancar toda a arapuca em torno do humor. Apesar dos “conteúdos densos”, a sequência de eventos em “A Crônica Francesa” se encena sobretudo em cima dos prazeres da construção de uma narrativa: primeiro o registro de cenário (a matéria rápida de Owen Wilson), depois o significado artístico (a história do prisioneiro artista de Tilda Swinton), o significado político (a reportagem das barricadas de Frances McDormand) e por fim os detalhes do olhar (a trama policial de Wright).
Tudo é feito às claras, consciente do reconhecimento do público com o propósito real e não verbalizado do filme enquanto filme. Quando Anderson materializa as histórias da revista como narrativas preto e branco com flashes de cor em momentos chave, é porque há o interesse em destacar ao espectador o que de fato fascina o narrador em meio aos acontecimentos, desde o olho colorido da prostituta vivida por Saoirse Ronan vislumbrado pela fechadura de um armarinho ao ato de um chef subindo as escadas com uma receita mortal.
É dessa relação de cumplicidade entre diretor e audiência que se faz “A Crônica Francesa”, e o longa-metragem se filia a esses atos atento à percepção de suas próprias limitações. Prova disso talvez seja tornar a fala final do chef como um descarte masturbatório da última reportagem: quando o editor decide ser melhor manter o trecho no texto, soa como mais um dos gestos de Anderson ao público, de como algo que aos seus olhos é um excesso pode servir como chave ao espectador.

É da relação de cumplicidade entre diretor e audiência que se faz “A Crônica Francesa”
Tudo isso, de novo, soa no fim como mero cinema de excessos, adequado à posição vantajosa do diretor como estrangeiro ao fordismo hollywoodiano que pode fazer o que quiser sem grandes contestações – afinal, é arte, diriam alguns. O mais interessante nisso, porém, é a percepção que mesmo numa situação de conforto nos grandes orçamentos do sistema de estúdio Anderson permanece em busca de algum sentido, interrogando as limitações de seu procedimento em um momento em que se espera dele o “mais do mesmo” típico.
E se é o como que faz valer a experiência do cinema, ele pelo menos continua interessado em manter funcionando suas casas de boneca, mesmo depois destas se mostrarem gradativamente engessadas. Que bom.
“A Crônica Francesa” está em exibição nos cinemas.
A pandemia ainda não acabou. Embora a vacinação avance no país, variantes do coronavírus continuam a manter os riscos de contaminação altos no Brasil. Se for ao cinema, siga os protocolos e ouça as autoridades de saúde sobre o melhor curso de ação após completar o esquema vacinal.





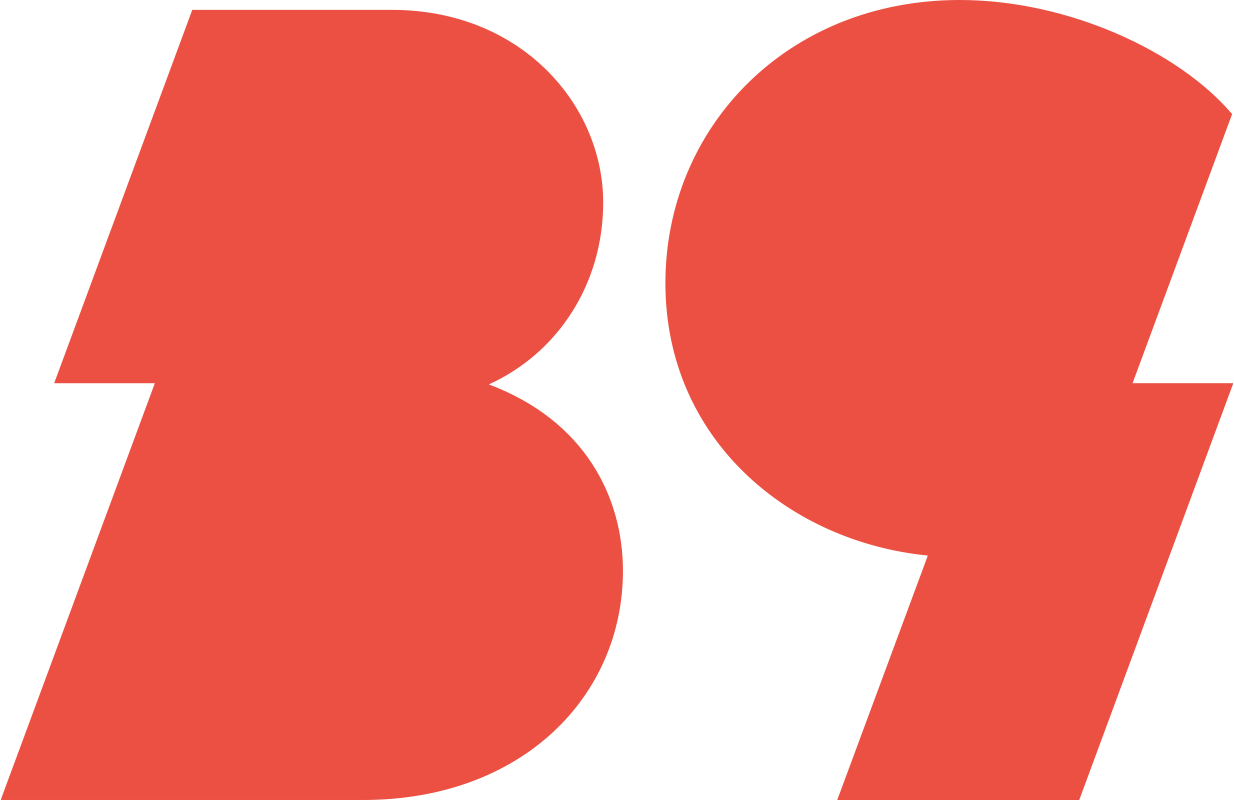










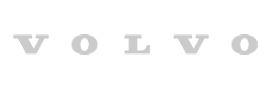







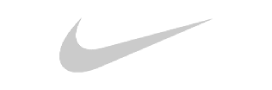


























Comentários
Sua voz importa aqui no B9! Convidamos você a compartilhar suas opiniões e experiências na seção de comentários abaixo. Antes de mergulhar na conversa, por favor, dê uma olhada nas nossas Regras de Conduta para garantir que nosso espaço continue sendo acolhedor e respeitoso para todos.