
- Cultura 7.maio.2021
“O Legado de Júpiter” tem potencial, mas chega atrasado no tipo de contestação que quer promover
Enquanto série propõe uma dramaturgia mais clássica aos super-heróis, primeira temporada busca o choque com situações que já foram banalizadas no gênero
Embora a discussão em torno do desgaste das histórias de super-herói se concentre primordialmente nos filmes, talvez seja na televisão onde se repara os primeiros sinais de desgaste da fórmula – ou das tentativas de romper com ela, pelo menos. Enquanto o cinema bem ou mal parece se manter em franquias consolidadas e na promessa recorrente das grandes bilheterias, a maioria das emissoras e serviços de streaming não conta com o mesmo luxo, algo que sem dúvida interfere no processo fabril da indústria dado que o jogo de erro e acerto é muito menos calculado quando só há a crença de que o gênero sozinho se sustenta.
Em cenários como esse, a solução mais comum é contestar as convenções e ousar percorrer caminhos diferentes do que o público está acostumado, um tipo de exercício que pode ser feito em chave tanto revisionista (de embasar discursos e instigar a estrutura em pontos sensíveis) quanto reativa (de escancarar hipocrisias pela via mais gráfica). E em um momento como o da TV atual, em que a competição é voraz e os riscos só crescem com os orçamentos aos olhos dos executivos, é apenas natural que o último ocupe o espaço, mas o problema é que é muito fácil ficar para trás – uma reação precisa de uma ação, afinal.
Esta constatação parece ser justamente a cruz que “O Legado de Júpiter” carrega em sua primeira temporada. Fruto da compra da Millarworld pela Netflix, a adaptação dos quadrinhos de Mark Millar e Frank Quitely para as telinhas tem na reação aos cânones não somente um norte narrativo como um tema maior, conforme sua história geracional de super-seres tende ao contraste das “fórmulas antigas” com o mundo de hoje. O que soa complementar se prova em conflito, porém: a série urge por um imediatismo de ação que quase nunca atende aos interesses da trama e do espectador, preferindo um tipo de choque que se há dois ou três anos era inesperado para o gênero, agora já é terreno explorado graças a produções como “The Umbrella Academy”, “The Boys”, “Watchmen”, as produções da Marvel na Netflix e por aí vai.

É uma crise que ocorre sobretudo porque o seriado comandado por Steven S. DeKnight usa de uma visão um tanto relapsa para tratar das duas frentes maiores da trama, que se divide de forma a contemplar a origem e o tal legado da União, um grupo de super-heróis nascidos na esteira da crise de 29 que atua como mantenedora da paz global. Enquanto no passado acompanha-se a jornada do herdeiro Sheldon (Josh Duhamel) para superar o suicídio do patriarca industrial e solucionar as estranhas visões que o acometem e o guiam a um misterioso destino, no presente o foco é num momento de crise da organização, conforme o mesmo Sheldon (agora Utópico) luta para manter o Código dos heróis intacto e passar o manto ao filho Brandon (Andrew Horton) perante as pressões sociais e políticas no papel do vigilantismo.
Em tese, o que se propõe aqui é uma visão de dramaturgia clássica em torno do sempre mitológico perfil do gênero, conforme o drama de pais e filhos deixa de ser subtexto para assumir a frente do palco dos dilemas e conflitos dos mocinhos e vilões. O codinome “Utópico” já escancara o peso da figura de Sheldon aos filhos Brandon e Chloe (Elena Kampouris), aos outros heróis e à própria sociedade, que encaram cada um a seu jeito as idas e vindas da responsabilidade dos super-poderes. E o protagonista não é o único dotado dessa dimensão, vale acrescentar, dado que todo membro fundador da União parece ter uma cria própria no presente – incluindo aí o renegado e desaparecido Skyfox (Matt Lanter), que dá origem ao rebelde Hutch (Ian Quinlan).

O que se propõe aqui é uma visão de dramaturgia clássica em torno do sempre mitológico perfil do gênero
Todo esse viés teatral de relações orbita em alguma instância pela tragédia grega e a série aparenta ter alguma noção disso – a ver pela peruca branca e o uniforme “superior” usado quase sempre por Duhamel no presente. Para além disso, entretanto, “O Legado de Júpiter” é tudo menos interessado nessas questões. Os episódios são pensados em torno do aparelhamento das duas histórias por beats de dramaturgia, favorecendo um dinamismo que quer acontecer no vai e vem dos flashbacks em detrimento do andamento natural dos acontecimentos, e essa decisão em si sugere o nível de automatismo e desinteresse da produção por qualquer coisa que não seja de impacto.
Na prática, o que se vê em cena é o foco em literalmente qualquer coisa que prenda o público ao andamento banal dos acontecimentos, mesmo quando não há o que assistir. A lógica do choque atropela a todos com seus grandes efeitos e zero retórica: os super-heróis do presente transam, consomem drogas, erram no respeito ao Código e usam seus poderes para fins próprios, e a produção de DeKnight enquadra isso como grandes momentos de contestação e diferenciação da produção atual.
É aí que a comparação com “The Boys” e “Umbrella Academy” surge para amaldiçoar os caminhos da série. Embora esteja longe da falsa revolta juvenil do primeiro e não abrace o pop da mesma maneira histérica do segundo, “O Legado de Júpiter” tem uma crença muito antiquada de estar provocando alguma reação com seus atos quando na verdade apenas segue práticas que já se tornaram convenções na TV. Dá até pra fazer piada que a duração de 40 minutos dos episódios – “contida” para os padrões atuais de uma hora dos seriados de drama – entrega que o projeto parece vir dos anos 2000 para se enquadrar no mundo de 2020, como um meme ambulante do “hellow fellow kids”.

O foco é em literalmente qualquer coisa que prenda o público ao andamento banal dos acontecimentos, mesmo quando não há o que assistir
O direcionamento frágil não esconde da série a força que ela ora ou outra mostra, porém. Por mais que as duas narrativas passem quase todo instante dos 8 episódios em estado de incompatibilidade, forçadas a coexistir em torno de comparações básicas dos momentos vividos pelos heróis (e o capítulo focado na vida de Chloe é um pequeno fundo do poço na explicitação dos daddy issues), a reta final da temporada sugere uma correção de rumo ao enfim estabelecer núcleos dramáticos minimamente similares em tema. O ato mais importante é reforçar a relação dos irmãos Sheldon e Walter (Ben Daniels) como central à narrativa, mas ajuda numa produção sem sutileza o fato do tema da responsabilidade, tão caro aos rumos do presente, surgir com maior clareza no passado para pautar discursos de personagens.
O curioso é que esses atos são também verbalizados como reconhecimento do erro, algo que na altura da temporada em que acontece pode vir não apenas dos heróis fantasiados em cena, mas também da série em si. Em alguns momentos, é como se o início do “Legado de Júpiter” igualasse os personagens na busca pelo perdão dos erros do presente em troca da promessa de um futuro melhor. Numa era de conteúdos e excesso de escolhas, caberá mesmo ao espectador o julgamento da segunda chance.
“O Legado de Júpiter” está disponível a partir desta sexta, 7 de maio, na Netflix.





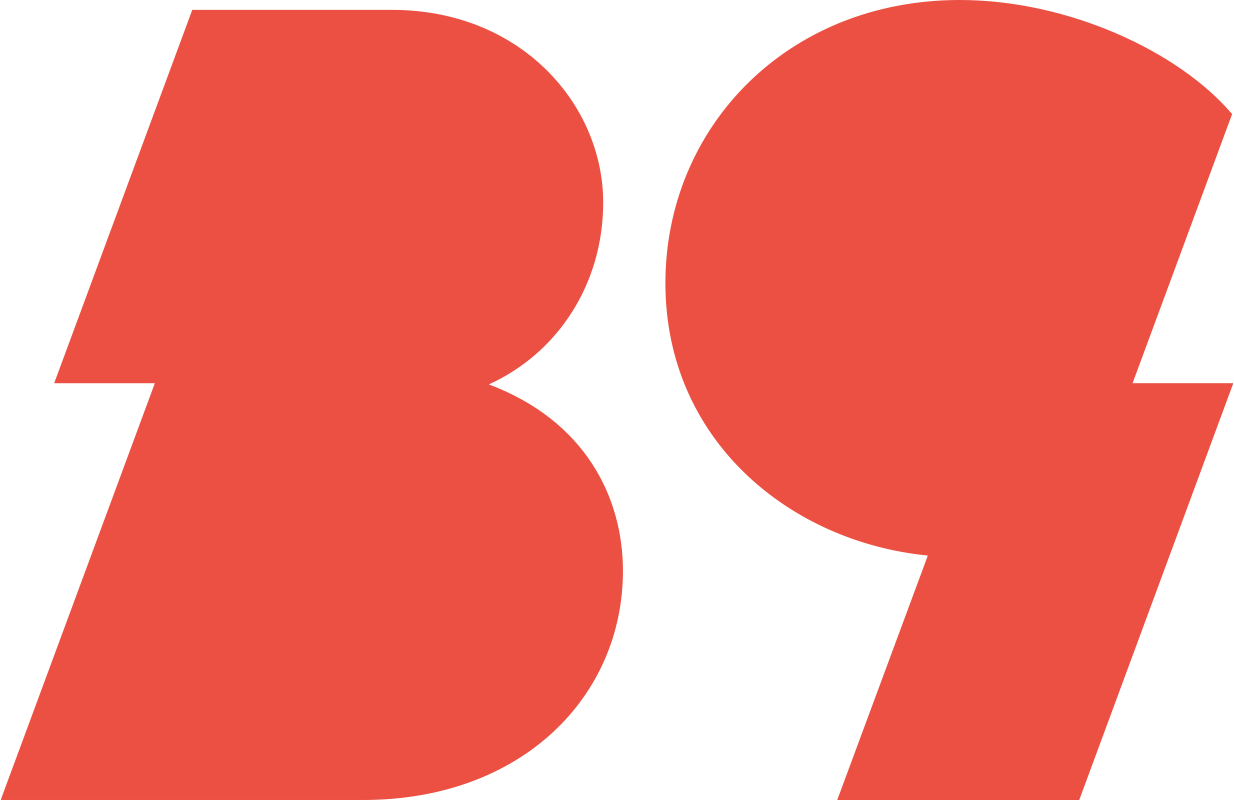










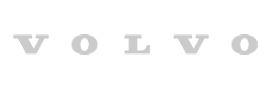







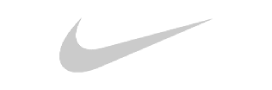


























Comentários
Sua voz importa aqui no B9! Convidamos você a compartilhar suas opiniões e experiências na seção de comentários abaixo. Antes de mergulhar na conversa, por favor, dê uma olhada nas nossas Regras de Conduta para garantir que nosso espaço continue sendo acolhedor e respeitoso para todos.