Como “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas” usou robôs para tratar da distância que criamos pela tecnologia
Conversamos com o diretor Michael Rianda sobre a difícil relação entre tecnologia e humanidade que permeia a nova animação da Netflix

É difícil ler a sinopse ou mesmo ver o trailer de “A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas” sem focar na segunda parte do título. O tom histérico de comédia e a premissa de uma família suburbana enfrentando o apocalipse liderado pelas máquinas para salvar a humanidade tende a ocupar as atenções de qualquer espectador desatento que decida dar o play no filme a partir da próxima sexta (30) na Netflix. Não deixa de ser um caminho justo, claro, mas é apenas inevitável que quem passe por essa lógica acabe se surpreendendo com o escopo da animação – em especial seus temas.
Isso porque apesar do cenário grandioso a produção está bem mais interessada em um tema muito próximo da realidade de muitos: a falta de conexão pela tecnologia. A distância que o digital cria nas relações reais por meio da hiperconectividade está inscrita no drama maior da tal família Mitchell do título, conforme a jovem Katie (Abbi Jacobson) se prepara para ir à faculdade e deixar o lar, onde cresceu com certo afastamento do pai Rick (Danny McBride). Depois de uma briga, Rick decide levar Katie pessoalmente até a vida universitária, usando uma viagem em família como disfarce para tentar salvar a relação paternal – mas ninguém na equação conta com a ideia de que no meio do caminho uma assistente virtual chamada PAL (Olivia Colman) se revolte contra o criador Mark (Eric Andre) e decida aniquilar a humanidade.
Aos olhos de Michael Rianda, essas duas histórias tem mais a ver do que parece. “Assim como Katie está tentando ir embora para a faculdade e isso deixa Rick com medo de ser abandonado, Mark também está deixando PAL para trás” reflete o diretor do filme durante uma entrevista por videochamada com o B9. O abismo geracional na relação com a tecnologia é parte importante de todo o processo do filme, assim como a própria noção de que a humanidade é falha por natureza. Segundo o animador, a produção registra de formas diferentes o que é natural e fabricado por máquinas exatamente para denotar esta barreira que a tecnologia nunca irá superar – “Nós queríamos ver humanidade em cada quadro, então por isso há texturas de aquarela, linhas e coisas do tipo” chega a comentar, comparando ainda o design do lar de PAL como uma típica instalação do artista James Turrell.
Este é o grau de especificidade que permeia toda a conversa com o diretor, que também falou bastante sobre o intenso processo de caracterização dos personagens, os felizes exercícios de mistura de animações e o uso da linguagem de redes sociais na narrativa do filme – além de como o filme deixou de se chamar “Super Conectados” ao ser vendido pela Sony Pictures à Netflix. Você pode conferir o papo na íntegra abaixo.

“A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas” trabalha com duas histórias de escalas muito diferentes. Há o drama da família, centrado na relação de pai e filha de Katie e Rick, e há toda a trama envolvendo a vilã PAL que trata muito da nossa relação com tecnologia hoje. Como balancear essa equação durante o filme, em termos de narrativa?
Foi muito difícil porque é isso, uma é uma história sobre uma família e a outra é uma história sobre tecnologia, e como aproximar as duas? O que nós acabamos fazendo foi aproveitar esta divisão geracional entre pais e filhos, como pais, filhos e netos tem relações diferentes com a tecnologia, e isso meio que virou uma espécie de metáfora para a distância que criamos entre si. Foi assim que nós acabamos fazendo a parte da tecnologia funcionar, e há ainda a história de PAL e Mark, que espelha a família porque, assim como Katie está tentando ir embora para a faculdade e isso deixa Rick com medo de ser abandonado, Mark também está deixando PAL para trás. Então é como se basicamente todos nós estivéssemos atrás de conexões, seja você um celular ou uma mãe e um pai, e foi assim que tentamos fazer estes dois tons funcionarem juntos – ou pelo menos esperamos (risos).
Imagino que por isso o nome original do filme era “Connected” [“Super Conectados”, em português], certo?
Na verdade o primeiro título era mesmo “The Mitchell’s Versus The Machines” e aí virou “Connected”. Agora voltou a esse título porque a Netflix gostou e a gente já gostava, então foi uma situação meio “Nós gostamos do título antigo” e “Nós amamos o título antigo” (risos).
Falando nessas duas partes – e acho que um pouco desse gap geracional também – eu acho interessante como a animação orbita entre uma abordagem realista, com todo o design futurista do Vale do Silício, e cartunesca, especialmente com os personagens e os momentos em que só há a família Mitchell em cena. De onde veio essa ideia e como vocês conseguiram materializá-la? Imagino que tenha sido algo muito complicado de conseguir.
(risos) Foi complicado! Mas eu fico feliz que foi feito dessa forma porque nós basicamente estávamos tentando fazer com que os humanos tivessem a humanidade daqueles personagens, com as falhas sendo refletidas em cada frame do filme. Nós queríamos ver humanidade em cada quadro, então por isso há texturas de aquarela, linhas e coisas do tipo, e nós queríamos que soasse como se uma pessoas estivesse desenhando tudo mesmo a animação sendo trabalhada em um computador. Nós também queríamos ver imperfeições e falhas, então a árvore não é uma árvore perfeita de computação gráfica, com toda folha em ordem, ela parece uma zona e esquisita como uma árvore tem que ser.
Do outro lado das coisas, porém, nós tínhamos como fazer o oposto, e essa era nossa grande reflexão para o filme. Como é sobre humanidade versus tecnologia vamos fazer o lado humano muito tátil e humano, e aí um de nossos artistas lembrou das instalações do James Turrell, com todas aquelas artes afastadas, coloridas e minimalistas. E foi muito legal e animador quando pusemos as duas coisas uma do lado da outra, porque havia um grande contraste entre elas. Então nós tornamos o lado humano o mais imperfeito, falho, bagunçado e burro possível, enquanto o dos robôs ficava mais reto, simétrico, poderoso, colorido e tudo aquilo que o mundo humano não era.

O filme usa bastante da linguagem de redes sociais como parte da narrativa, algo que eu acho que vocês definiram nas notas da produção como a “Katie Vision”. Como foi esse processo? Eu imagino que seja um desafio usar memes e esse tipo de linguagem, dado que eles estão constantemente se transformando e envelhecendo e é fácil se tornar datado – algo que acredito que vocês conseguiram evitar.
Ah, ótimo! (risos) Eu tenho um sobrinho e eu vi o filme com ele, e durante a sessão ele me dizia coisas como “Este meme é chato agora” (risos) enquanto eu ficava anotando e respondendo “Ok, ok, é chato! O que poderia ser legal??”. Ele tem 14 anos e ele era quase meu consultor criativo (risos)!
Isso foi uma das coisas, mas nós também testamos o filme um monte de vezes e algumas coisas conectaram com todo mundo, de crianças a adultos, enquanto outras apenas os pequenos ficaram “Ah, eu vi esse Vine há uns dois anos, ele agora é bobo” e os adultos respondiam com um “É, isso aqui é MUITO alto” (risos). Nós tentamos achar algo que todo mundo estivesse curtindo e que de certa forma servisse como reflexo da cultura, porque nós sentimos que se não fosse assim nós muito provavelmente estávamos fazendo algo errado. Eu conheço crianças que fazem filmes e, você sabe, eles fazem filmes de memes ou encontram músicas licenciadas… digo, eles não se importam, e é meio assim que as pessoas fazem agora.
Eu acho que esse é o raro caso de filme que fala de internet sem usar um catálogo imenso de música pop.
(risos) Nós queríamos evitar isso! Nós quisemos passar o mais longe possível do tipo de decisão tomada por um conselho executivo.
Eu estava lendo as notas da produção mais cedo e notei que na descrição da Katie vocês colocam que os heróis dela no cinema são diretores como Céline Sciamma, Greta Gerwig e até Hal Ashby. Achei algo interessante porque as escolhas são bastante específicas e passam longe de uma caracterização mais básica, o que me leva a perguntar: o quão profundo são os perfis dos personagens? Qual o impacto disso no filme, ao seu ver?
Uma parte legal de fazer um filme como este é que nós temos uma tonelada de coisas que não usamos, porque elas não funcionavam por uma razão ou outra, então nós tivemos como realmente descobrir um monte de informações sobre nossos personagens enquanto escrevíamos o roteiro. Nós começamos com o básico, como bandas favoritas, blá blá blá, nós fizemos estes pequenos perfis como todo mundo, mas tentamos trazer essas coisas para a superfície quando podíamos, porque eu também acho que isso ajudar a tornar os personagens mais profundos. Então, por exemplo, Linda adora música country e você nunca fica sabendo disso no filme, mas ela está usando essas botas e você pode ver o gosto dela ali, então se tudo der certo isso ajuda a fazê-la algo mais próximo de uma pessoa real, mesmo que você só veja uma parte disso em determinado momento.
Agora sobre os filmes em si, sabe, alguma das coisas são apenas pessoas que gostamos (risos). Então nós gostamos do Hal Ashby, Céline e todo mundo, e nós ficamos felizes de ver a Katie carregar um pequeno pedaço da gente, sabe?




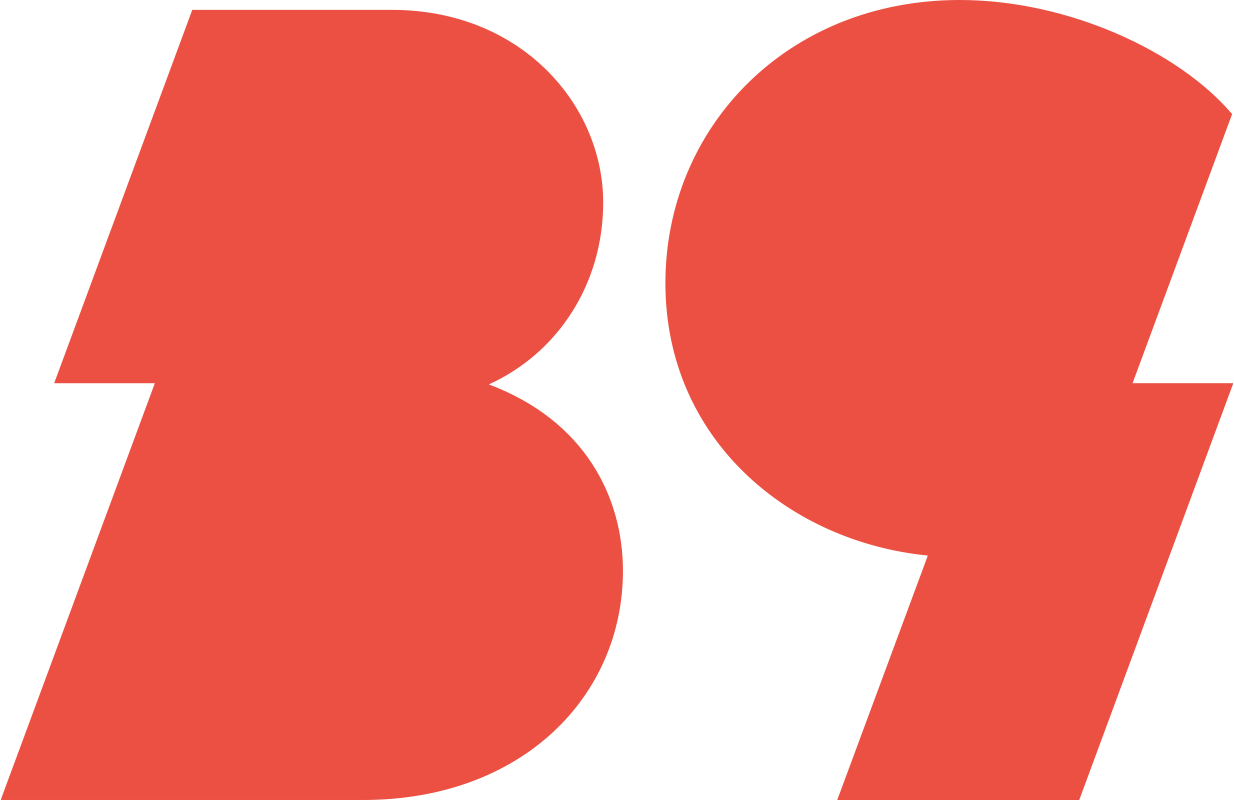










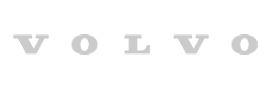







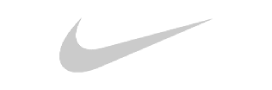


























Comentários
Sua voz importa aqui no B9! Convidamos você a compartilhar suas opiniões e experiências na seção de comentários abaixo. Antes de mergulhar na conversa, por favor, dê uma olhada nas nossas Regras de Conduta para garantir que nosso espaço continue sendo acolhedor e respeitoso para todos.