
- Cultura 9.jul.2020
“The Old Guard” carrega temas ambiciosos, mas se mantém como produto comportado
Direção de Gina Prince-Bythewood ensaia drama sobre apatia, mas história de guerreiros imortais termina apática perante os interesses superficiais do roteiro
É verdade que comparar filmes baseado apenas no fato de pertencerem ao mesmo distribuidor é um exercício tão fútil quanto aparenta, mas chega a ser irresistível a afirmação de que entre as histórias contadas por “The Old Guard” e “Esquadrão 6” a maior diferença seja o caráter sobrenatural do primeiro. Além de serem duas grandes produções da Netflix voltadas ao gênero da ação, tanto o longa lançado agora por Gina Prince-Bythewood quanto o dirigido por Michael Bay no ano passado carregam uma mesma motivação vaga de se fazer o bem pelas vias tortas da violência, uma motivação nobre e mergulhada em um cenário de discrição que nunca vai muito além do “precisamos matar pessoa X porque suas ações Y geram consequências Z”.
Para além do tópico da imortalidade, uma outra distinção importante a se fazer neste momento é que enquanto “Esquadrão 6” assume para si esta motivação como premissa, o “The Old Guard” prefere ocultar esta pretensão por trás da complexa teia emaranhada do destino. Ao contrário dos soldados recrutados por Ryan Reynolds, afinal, os guerreiros imortais do filme baseado nos quadrinhos de Greg Rucka (que também assina o roteiro da adaptação) agem de forma indireta sobre os eventos da humanidade, aceitando “trabalhos” e “missões” não por uma responsabilidade direta mas por “acreditarem que fazem o certo” – imbuídos, talvez, de um senso de justiça que perpassa a condição eterna de sua existência, quase vampiros obrigados a assistir a humanidade a errar seguidas vezes.
Neste sentido, é divertido pensar que o filme comandado por Prince-Bythewood aspira seguir um caminho similar a um “Amantes Eternos”, inspirado justamente nas proposições mais filosóficas das histórias de vampiro para tentar inflar um material que soa bastante genérico em sua proposta. Se na prática a produção é a colisão do desejo da Netflix por franquias de ação com o interesse de Rucka por fidelidade sobre sua obra, em suas bordas é perceptível o quanto o longa tenta dar um contorno às histórias da anciã Andy (Charlize Theron) e da novata Nile (Kiki Layne), que em alguns momentos escapam de suas funções primordiais como engrenagens de uma máquina à beira do desmanche.

O mérito destes poucos momentos de sanidade vem da própria diretora, cuja carreira feita no comando de melodramas e romances como “A Vida Secreta das Abelhas” e o sempre subestimado “Nos Bastidores da Fama” a ajudam a navegar pelos pontos mais críticos da trama aqui. O interesse de Prince-Bythewood é menos de explorar a responsabilidade dos atos do grupo de protagonistas que evidenciar suas dores e frustrações perante a própria imobilidade, como se nada que fizessem de fato alterasse qualquer espectro do status quo. É uma provocação voltada sem dúvida à realidade atual do mundo – em especial na insatisfação constante com o estado das coisas e o clima de desânimo das redes – que é multiplicada pela presença eterna dos personagens: depois de séculos de existência, como evitar a apatia sobre os rumos circulares do mundo?
O filme naturalmente relega grande parte deste debate à figura de Theron e sua origem antiga (nunca se sabe sua real idade), mas não é muito difícil enxergar o tema refletido nos outros eternos, seja no Booker de Matthias Schoenaerts – que acena para cicatrizes mais profundas quanto à perda dos familiares – ou no casal formado por Joe (Marwan Kenzari) e Nicky (Luca Marinelli), cujo amor nasce no auge das cruzadas. Tudo gira em torno de relações criadas e dissolvidas no passado, como não deveria deixar de ser a qualquer cineasta formado no melodrama, mas no curso da narrativa fica evidente o apuro da diretora em fazer o máximo destes espaços minguantes.

O interesse de Prince-Bythewood é de evidenciar as dores e frustrações dos protagonistas perante a própria imobilidade
A questão é que estes momentos são de fato pequenos dentro da estrutura inflada e escalafobética do roteiro de Rucka, cuja ambição mora em torno do lado prático da eternidade e a relação de bem e mal. É o típico caso de um material preso ao corpo de outro, reforçado pelo caráter excêntrico (e para alguns nobre) de ver o autor do original no comando criativo da adaptação: tudo que se constrói em termos de drama é logo reaproveitado em direção da trama ou de possíveis continuações, como se cada pedaço de informação necessariamente precisasse de algum fim prático – como os relacionamentos antigos de Andy, reutilizados como piadas sobre sua idade ou fins piores – ou passasse por alguma pasteurização maniqueísta – e neste último departamento, nada parece revelar mais a aspiração de “The Old Guard” ao produto típico do Marvel Studios que o vilão vivido por Harry Melling, o jovem empresário cientista com síndrome de Deus da vez.
O prevalecimento do texto e a ambição desmedida por um gênero específico são prejudiciais, mas é matador o estranhamento sentido pela própria Prince-Bythewood com a ação que orquestra. É o resultado quase inverso dos excessos de “Esquadrão 6”, retomando a malfadada comparação, ainda que o nível seja mais ou menos idêntico: a direção mostra seguidas vezes não saber o que fazer com a característica indestrutível dos personagens além de um uso de escudo humano, enquanto tenta compensar a deficiência com uma interpretação atropelada do formato de ação como videoclipe. Se sobram músicas tocadas na íntegra para conferir “dramaticidade” ao momento, é evidente o quanto falta um senso de gravidade em torno das situações que escape do já estabelecido pelos diálogos.

É matador o estranhamento sentido por Gina Prince-Bythewood com a ação que orquestra
Em meio a essas tantas partes dissonantes há sem dúvida um comentário a ser feito sobre a seriedade auto-adquirida destas publicações “voltadas a adultos” dos quadrinhos estadunidenses e o quanto esta “pose” se basta na sugestão de temas e reciclagem de clichês, mas enquanto cinema “The Old Guard” parece condenado a servir de exemplar do gênero que se valoriza pelo que ocorre em suas bordas – da representatividade LGBT ao esforço solitário de sua direção. É a dor máxima do produto genérico esta ausência de uma identidade que vá além dos atributos específicos, mas isso nunca deixa de ser intrigante quando aplicado a um filme que se manifesta “original” e “profundo”.





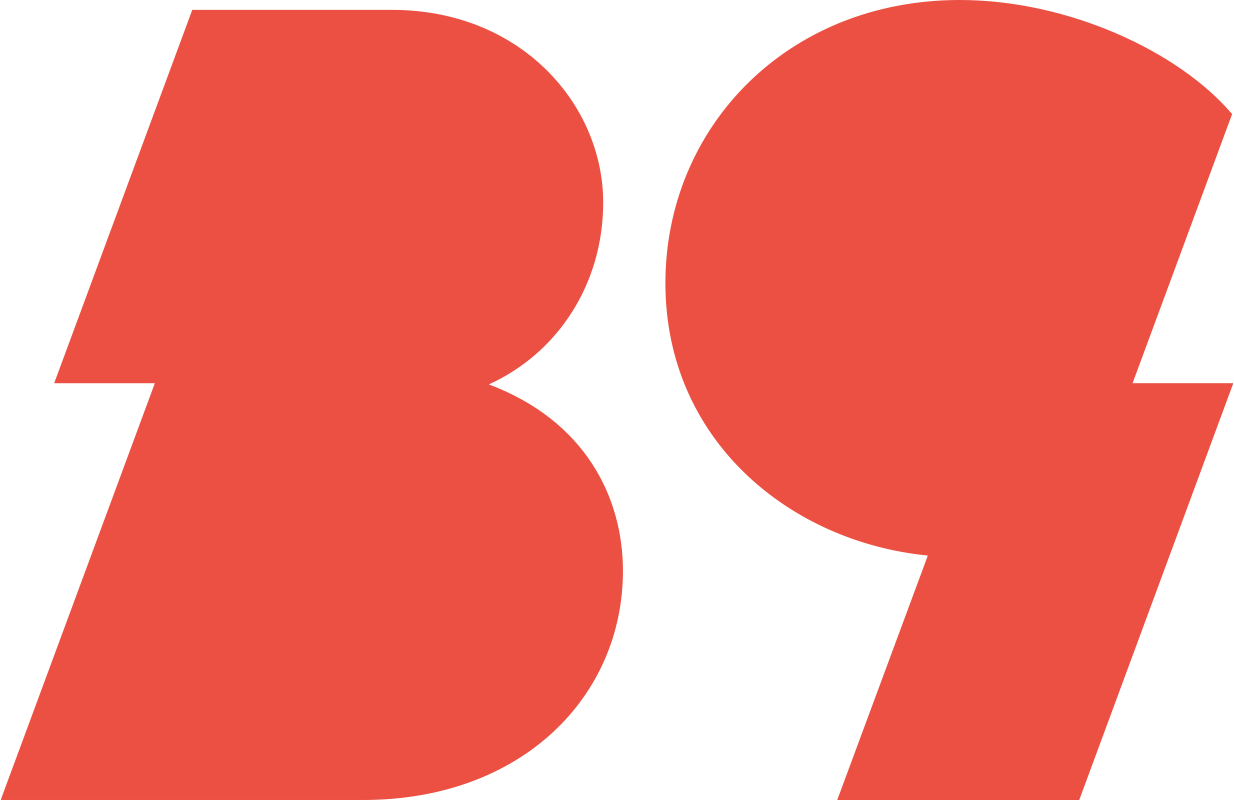










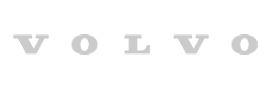







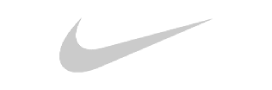


























Comentários
Sua voz importa aqui no B9! Convidamos você a compartilhar suas opiniões e experiências na seção de comentários abaixo. Antes de mergulhar na conversa, por favor, dê uma olhada nas nossas Regras de Conduta para garantir que nosso espaço continue sendo acolhedor e respeitoso para todos.