
- Cultura 19.out.2015
Controverso dentro e fora da tela, “Beasts of No Nation” já é um marco na indústria
Diretor Cary Joji Fukunaga reproduz o horror disfarçado de beleza no primeiro longa de ficção da Netflix

Por várias razões, “Beasts of No Nation” já nasce como um marco importante e uma fonte inesgotável de discussão. O primeiro longa-metragem de ficção produzido pela Netflix foi lançado simultaneamente na plataforma virtual e em 31 salas norte-americanas, em um processo marcado pela recusa de diversas redes em exibi-lo sob tais condições, tendo que atrair o público para fora de casa frente à comodidade do serviço, no que talvez signifique um câmbio de paradigmas em Hollywood (ou não).
Além disso, existe uma campanha para que o filme se consolide como forte concorrente nos principais prêmios da indústria, o que indicaria um salto para a empresa, que faturou indicações ao Oscar com dois de seus documentários (“Virunga” e “The Square”) nas últimas temporadas. No Brasil, com distribuição exclusiva pela internet, é natural que questões dessa natureza permaneçam à margem do produto final em si — este, sim, o objeto de análise desse texto.

O diretor Cary Joji Fukunaga no set com Idris Elba
Dirigido por Cary Joji Fukunaga, responsável por “Jane Eyre” e a primeira temporada de “True Detective”, a partir do livro de Uzodinma Iweala, o filme se concentra em Agu (Abraham Attah), um garoto em meio ao caos da guerra civil em um país africano não identificado.
O ato introdutório apresenta o protagonista como um bom menino, que se vale da imaginação e dos recursos possíveis para se divertir e sobreviver ao lado da família — junto de amigos, por exemplo, ele troca por comida sua “televisão da imaginação”, na realidade um aparelho de tubo sem tela. A narração em off e em primeira pessoa é que sustenta toda essa construção, em que ele descreve sua família e os aspectos básicos de sua vida de maneira inocente, infantil.
A partir do momento em que um ataque força a saída da mãe e dos irmãos mais novos para a capital e prende o menino, seu irmão mais velho, o pai e o avô sob fogo intenso, o segmento anterior adquire novos significados. Agu consegue escapar, mas passa à condição de criança-soldado no grupo rebelde chefiado pelo Comandante (Idris Elba). O procedimento adotado pelo filme é de estabelecer contrastes claros entre sua infância razoavelmente normal e a necessidade de amadurecimento forçado quando o conflito ganha corpo.
Além de suas questões morais, “Beasts of No Nation” abre discussão sobre plataformas e o futuro do cinema
Por essa razão, são elencados certos eventos e rituais que sintetizam a transformação do garoto: as lições do pai na escola são substituídas por um treinamento de guerrilha na mata; o convívio com o irmão mais velho dá lugar à relação de estranhamento inicial com outros soldados; as conversas ao redor da mesa de jantar e as brincadeiras inofensivas na rua deixam de existir, com seu espaço sendo preenchido pelo uso coletivo de drogas e um jogo de futebol que termina em agressão.
Mais do que dimensionar essa mudança, o filme parece empenhado em explorar ao máximo a violência. O problema surge em uma sequência específica após uma emboscada, quando o menino recebe do líder do grupo a tarefa de matar um homem com um cutelo. A estilização desse momento, com direito a slow motion e sangue espirrado na lente da câmera, contamina o filme, como se a estetização da morte fosse o único interesse do cineasta — ou, ao menos, que seu real propósito fosse bastante obscuro.
Em determinado trecho, Agu chega a desejar que o sol pare de brilhar para que ninguém possa ver as coisas terríveis que estão acontecendo. Por que razão, então, Fukunaga faz questão de mostrá-las? Trata-se de uma discussão antiga, própria de ideias de ética e cinema que hoje não ocupam o centro das atenções, mas que certamente merece consideração, sobretudo porque esse descompasso ganha ecos mais à frente na trama.
A tomada de um vilarejo, por exemplo, é levada à tela basicamente como uma montagem alternada de disparos de tiros, movimentação de soldados e gritos de guerra, quase como um videoclipe não sequencial que preza apenas por um senso estético no mínimo perverso.
Ainda, há um plano-sequência que conduz a uma mulher sendo estuprada e assassinada, enquanto uma criança é pisoteada no corredor ao lado. Diferente do que faz numa cena em que o garoto é abusado, aqui o diretor não desvia a câmera, não se sensibiliza, não condena, apenas mostra de maneira sádica, com seu olhar voyeurístico que reproduz o horror disfarçado de beleza e impacto visuais.
Questões morais à parte, há o que se elogiar na forma como o filme trabalha a transformação interna de Agu. Sua reação à violência possui diferentes facetas, partindo da aversão à entrega, mas preserva sempre alguma humanidade, mesmo que pela reação física de vomitar após cada novo assassinato. É interessante também como as intervenções feitas por sua voz, em contato com Deus ou em monólogos sobre seus sentimentos, estabelecem um vínculo com seu relacionamento com o Comandante.
As interações entre eles se dão em uma lógica de doutrinação: o líder diz, o garoto obedece e depois leva seus questionamentos ao plano espiritual. O aspecto religioso, que permeia toda a narrativa e acena levemente com “Além da Linha Vermelha”, é também parte do rito de mudança do garoto, na sequência em que a estilização do cenário em tons de vermelho cria uma alegoria para a descida do menino ao inferno.
No restante do tempo, a ambientação é bastante genérica: a África (qual delas?) não é mais que um espaço caótico, e os personagens secundários — de todos os lados — possuem traços mais cartunescos do que humanos. A presença de Elba, porém, é capaz de manter o filme de pé. Sua presença em cena, ao mesmo tempo psicótica e carismática, em contraponto à interpretação consideravelmente mais sensível (mas não menos competente) de Attah, não carrega os mesmos tons da estética pop de Fukunaga, e sua brutalidade funciona para provocar reações àquele horror. Os melhores momentos do filme surgem quando a dupla se reúne em cena, dando valor aos longos planos a cada troca de palavras e olhares.
Finalmente, retornando aos elementos extra-filme, relativos às mídias escolhidas para sua estreia, é inevitável pensar em “Beasts of No Nation” como um paradoxo. O gigantismo de suas imagens, o enorme apelo estético de seu diretor e o poderosos trabalho de som parecem clamar por uma sala de cinema. Por outro lado, um lançamento convencional não possuiria fatores capazes de desviar a atenção para uma discussão sobre plataformas e o futuro da indústria, o que talvez desse mais espaço aos questionamentos morais que deveriam acompanhá-lo.









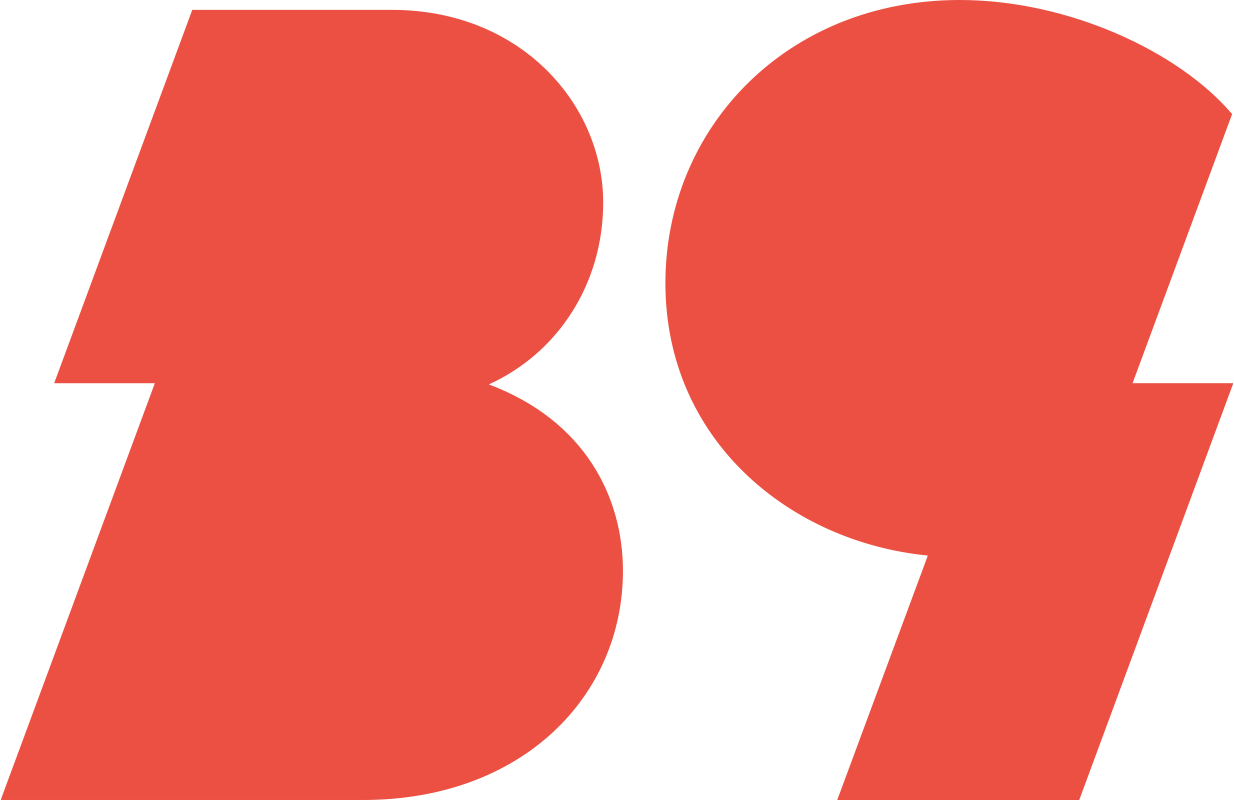










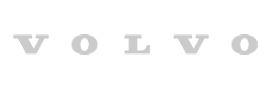







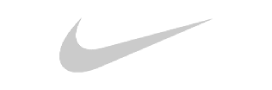


























Comentários
Sua voz importa aqui no B9! Convidamos você a compartilhar suas opiniões e experiências na seção de comentários abaixo. Antes de mergulhar na conversa, por favor, dê uma olhada nas nossas Regras de Conduta para garantir que nosso espaço continue sendo acolhedor e respeitoso para todos.